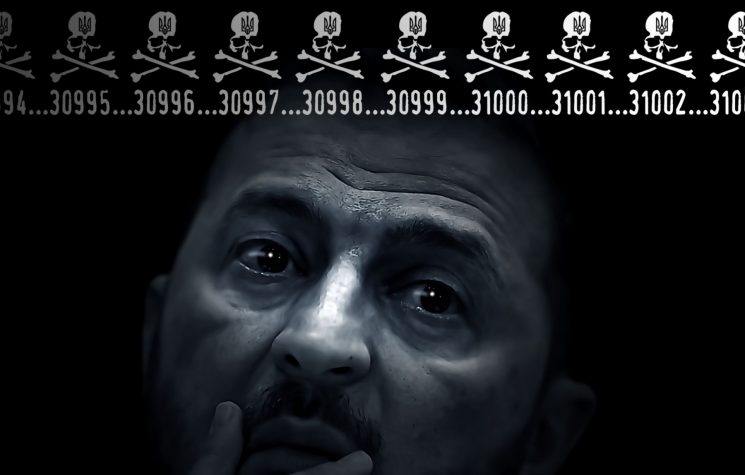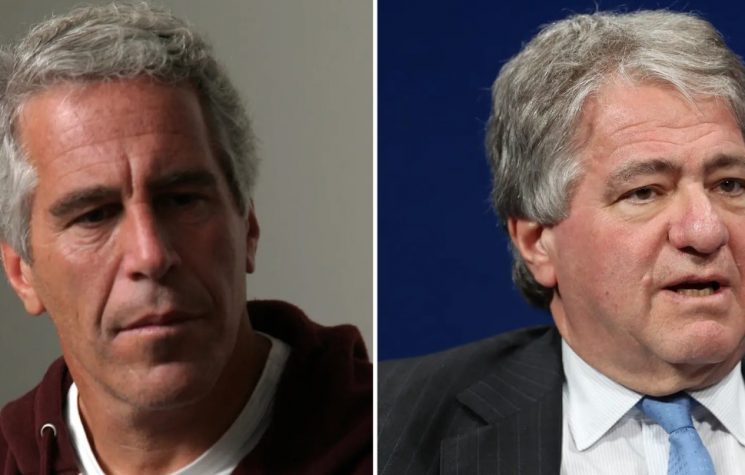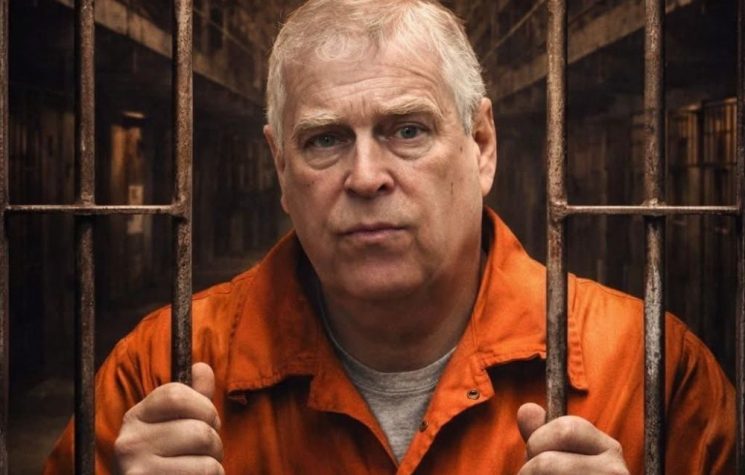A situação em Gaza tem sido inspiradora da criatividade criminosa e genocida de figuras gradas do sionismo.
Junte-se a nós no Telegram ![]() , Twitter
, Twitter ![]() e VK
e VK ![]() .
.
Escreva para nós: info@strategic-culture.su
“A transferência obrigatória (dos palestinianos) permitir-nos-á tomar posse de uma imensa região; e não vejo na transferência obrigatória nada de imoral”
(David Ben Gurion, fundador e primeiro chefe de governo do Estado de Israel)
O sionismo, como doutrina teocrática fundamentalista, é uma fonte inesgotável de metáforas inspiradas nas velhas Escrituras em versões com estilo e léxico renovados para se adaptarem aos tempos de hoje e penetrarem mais profundamente como ferramentas de propaganda.
A regra não é geral porque às vezes os antiquíssimos dizeres bíblicos servem para incitar de maneira figurada – portanto sempre passível de ser desmentida – à realização de actos sanguinários que, mesmo sob a existente campânula de impunidade, poderiam até chocar almas sempre dispostas a justificar os mais injustificáveis comportamentos israelitas.
Dias depois de 7 de Outubro de 2023, quando Israel se lançou em nova fase do genocídio em Gaza, Benjamin Netanyahu recorreu ao Deuteronómio, livro sagrado comum à Tora hebraica e ao Antigo Testamento bíblico, para invocar os versículos 15:3 do profeta Samuel: “Isto é o que o Senhor Todo-Poderoso diz: vai e fere Amaleque e destrói completamente tudo o que eles têm, não os poupes, mata homens e mulheres, crianças e bebés, bois e ovelhas, camelos e jumentos”.
Amaleque era há três mil anos, segundo os livros sagrados, um “reino rival” do “reino de Israel”. Netanyahu foi peremptório a garantir que a escolha da citação e o momento para a recordar nada tinham que ver com a operação militar em Gaza e os incitamentos ao genocídio. Apeteceu-lhe recitá-la – não existe outra explicação. Em seu redor, porém, não faltaram as recomendações agressivas de ministros, deputados e dignitários religiosos sublinhando que toda a população de Gaza – homens, mulheres e crianças – são “alvos legítimos” das tropas israelitas.
No dia-a-dia do sionismo abundam, porém, metáforas de formulação bem mais grosseira, boçais, cruéis e racistas até, isentas das piruetas de linguagem usadas para expôr os requintes de malvadez cultivados no Antigo Testamento. As mais frequentes, e que traduzem na perfeição o culto supremacista dos seguidores desta doutrina, são as metáforas zoológicas, repisando o tema da identificação dos palestinianos com animais.
Ehud Barak foi o último primeiro-ministro do histórico Partido Trabalhista, que entrou em fase de dissolução com o assassínio de Isaac Rabin em 1995, resultante, sem dúvida, de uma conspiração urdida pela direita usando os colonos e fundamentalistas desequilibrados como executantes. Seguindo o caminho tradicional para identificar quem lucrou com o crime, na primeira linha de suspeitos estão Ariel Sharon e Benjamin Netanyahu, que repartiram o lugar de primeiro-ministro quase por inteiro nos últimos 30 anos, precisamente desde a liquidação de Rabin.
Barak ocupou o cargo esporadicamente no início do século e mantém-se plenamente no activo, embora sem poiso político certo. Segundo ele, de extracção trabalhista e alegadamente secular como Ben Gurion, Golda Meir e Isaac Rabin, “os palestinianos são como os crocodilos, quanto mais carne se lhes dá mais querem”. Tornou pública esta teoria, inspirada, por certo, nos documentos sobre a vida animal de Sir David Attenborough, a propósito das “negociações” com a parte palestiniana iniciadas no âmbito dos Acordos de Oslo de 1993 e depois sabotadas pelo regime sionista e pelos “mediadores” norte-americanos.
O já citado Ovadia Yussef, grande rabino sefardita e chefe até 2014 do partido fundamentalista Shass, reflectiu publicamente sobre a existência de árabes na “Terra de Israel” testemunhando que “pululam como formigas na Cidade Velha de Jerusalém: que vão para o diabo, o Messias irá expedi-los para o inferno”.
Nas primeiras décadas do século passado, Mosha Smilanski foi um escritor sionista e, simultaneamente, um latifundiário que lançou a “Associação de Agricultores” na Palestina sob Mandato Britânico. Da sua actividade concluiu que “estamos confrontados com um povo semi-selvagem com conceitos extremamente primitivos (…) e um ódio secreto aos judeus. Esta raça semita (os árabes) é antissemita.
Zev Boim, deputado israelita eleito pelo partido “centrista” Kadima, que há poucos anos entrou em alianças com o Likud de Netanyahu, é autor de uma definição brilhante sobre as características rácicas dos árabes e dos muçulmanos em geral. Eis as suas reflexões: “Que há no Islão em geral e nos palestinianos em particular? É uma espécie de carência cultural? Um defeito genético? Neste desejo permanente de matar há qualquer coisa que desafia as explicações…”
O latifundiário Smilanski, porém, reconhecera que os árabes são “uma raça semita”, realidade que hoje é silenciada por razões óbvias da propaganda sionista, seguida sem reservas pelas áreas políticas e mediáticas que a disseminam.
O sionismo assumiu abusivamente o monopólio do “semitismo” de maneira que qualquer crítica ou acusação à teoria e práticas do regime de Israel e da doutrina em que se baseia seja considerada uma manifestação de antissemitismo. Pelo que a condenação das chacinas em curso em Gaza ou mesmo as decisões do Tribunal Internacional de Justiça sobre a conduta de Israel nesse território sejam consideradas, e não apenas em Israel, expressões de antissemitismo. O regime de Macron em França tem desenvolvido diligências para que actos de “antissemitismo” como estes sejam penalizados com penas de prisão que podem chegar a cinco anos.
Basta, para isso, que alguém viole supostamente a definição oficial de antissemitismo delegada pelo sionismo numa entidade sionista designada “Aliança Internacional de Recordação do Holocausto” (AIRH): “Antissemitismo são as alegações falsas, desumanizadoras, diabólicas ou estereotipadas sobre os judeus em si ou o poder dos judeus como grupo”; e também “culpar os judeus por coisas que não corram bem”.
A caracterização está viciada da primeira à última palavra. Considera todos os membros da comunidade judaica mundial como sionistas; confunde a etnia hebraica com a globalidade do “semitismo”, o que é deliberadamente falso porque ignora a generalidade dos povos semitas, designadamente os árabes, escondendo que o próprio conceito oficial de sionismo assim definido é antissemita. O que aliás está explícito nas palavras de Mosha Smilanski atrás citadas: árabes são “uma raça semita antissemita”. Pela mesma ordem de ideias, a definição da AIRH é antissemita porque atribui o monopólio do “semitismo” ao “povo judeu”, neste caso à sua minoria inserida no conceito de sionismo. Segrega, portanto, os povos árabes e os próprios extractos de judeus que não se identificam com o sionismo.
A viciada identificação absoluta entre o sionismo e o semitismo, excluindo boa parte do judaísmo e a generalidade dos outros povos semitas, é uma antiga estratégia de propaganda da doutrina do Estado de Israel para universalizar a acusação de antissemita a quem não se identifica com as práticas israelitas.
Abba Eban, vice-primeiro ministro, ministro dos Negócios Estrangeiros e representante de Israel nas Nações Unidas nos governos de Golda Meir, deixou bem clara essa estratégia: “Uma das tarefas principais de qualquer diálogo com o mundo é provar que a distinção entre antissemitismo e antissionismo não existe”.
Teses de extermínio
A limpeza étnica que as tropas de Israel estão a fazer em Gaza não é uma prática criminosa original, temporária e isolada. É a estratégia de base da criação do Estado de Israel e um conceito primordial da doutrina sionista, não formulado por estas palavras mas explicitado em múltiplas declarações, ao longo de décadas, proferidas por altos responsáveis do sionismo.
Ben Gurion e o general Moshe Dayan, um militar polémico que integrou o grupo terrorista Haganah e foi considerado um herói nas campanhas da independência, da guerra contra o Egipto em 1956 e da Guerra dos Seis Dias, em 1967, fizeram considerações confirmando a impossibilidade de Israel existir sem uma limpeza étnica contra os árabes da Palestina.
Em 1969, numa conferência perante estudantes universitários, Dayan afirmou que “não existe um único lugar construído neste país que não tenha tido uma população árabe”.
Moshe Dayan terminou a sua carreira político-militar quando defendeu a retirada unilateral israelita dos territórios ocupados em 1967, contrariando a política do primeiro-ministro, Menahem Begin, no sentido de consumar a anexação da Cisjordânia, de Gaza e dos Montes Golã, território sírio.
O general que considerava “não haver nada mais excitante do que a guerra”, não perdeu, por outro lado, a perspectiva da violência necessária para concretizar os objectivos do sionismo.
Numa homenagem fúnebre a um militar israelita morto pela resistência palestiniana em Gaza, em Abril de 1956, Moshe Dayan afirmou: “Não culpemos os assassinos de hoje (…) Há oito anos que estão nos seus campos de refugiados em Gaza enquanto, sob os seus olhos, temos vindo a transformar as terras e as aldeias onde eles e os seus pais habitavam em propriedade nossa”.
Dayan conhecia bem e assumia a realidade. As suas palavras poderiam ser pronunciadas hoje substituindo “oito anos” por “75 anos” – a limpeza étnica continua. Como confirma Avi Dichter, ministro do Likud entre 2006 e 2009 e chefe do Shin Beth (polícia secreta interna) em 2023, “Estamos em vias de realizar uma nova Nakba em Gaza. Nakba Gaza 2023, isto acabará assim”.
Nakba é a expulsão de 750 mil palestinianos das suas terras, aldeias, cidades e casas em 1948-49 durante o período de criação e instauração do Estado de Israel, a primeira grande limpeza étnica organizada e desenvolvida pelo sionismo. O conceito “Nakba Gaza 2023” exposto por Dichter não deixa dúvidas de que estamos nestes dias perante uma operação de limpeza étnica, um violação crua do direito internacional e um crime grosseiro contra a humanidade.
Também Ben Gurion, tal como Moshe Dayan mas cerca de 20 anos antes, admitiu que o processo de criação do Estado de Israel exigia uma transformação total na estrutura demográfica da Palestina: “O país é deles (os árabes) porque eles habitam-no enquanto nós queremos vir para cá estabelecer-nos e, na visão deles, queremos tirar-lhes o país vivendo nós ainda no exterior”, declarou o fundador do Estado de Israel perante o Comité Político do partido Mapai (trabalhista) em 7 de Junho de 1938.
Durou pouco a aparente contenção do discurso de Ben Gurion. Ainda no mesmo ano proclamou que “a transferência obrigatória permitir-nos-á tomar posse de uma imensa região; e não vejo na transferência obrigatória nada de imoral”.
Apesar das aparentes diferenças ideológicas, o trabalhista Ben Gurion limitou-se, porém, a ecoar recomendações emanadas anteriormente pelo revisionista e ultradireitista Vladimir Jabotinsky, a quem o primeiro primeiro-ministro israelita chamava “o fascista”: “não há alternativa: os árabes devem dar lugar aos judeus no Grande Israel”. Já em 1920, antes de Jabotinsky lançar o movimento revisionista do sionismo para contrabalançar o “socialismo” dominante nos primeiros anos da colonização, o jornalista sionista inglês Israel Zaugwill alertara que “devemos preparar-nos para expulsar (os árabes) pela força, tal como fizeram os nossos antepassados” – uma espécie de regresso ao mito fundador do Reino de Israel (alegadamente 930-720 AC), quando as 12 tribos de Moisés expulsaram os cananeus. Muitos eruditos israelitas contestam a versão bíblica destes acontecimentos e outros, embora aceitando a narrativa do Antigo Testamento em geral, consideram que foi muito ficcionada.
Na altura da independência do Estado sionista, em 1948, Menahem Begin, chefe do grupo terrorista Irgun e futuro primeiro-ministro e Prémio Nobel da Paz, e para quem “os palestinianos são animais que andam sobre duas patas”, assegurou que “a partilha da Palestina”, decidida pelas Nações Unidas, “é ilegal e jamais será reconhecida” – como o Parlamento de Israel acaba de decidir ao recusar-se a admitir a chamada “solução de dois Estados”. Begin estipulou ainda que “o Grande Israel será restaurado pelo povo de Israel por inteiro e para sempre”. Cerca de quarenta anos depois, em 1987, o deputado e chefe do partido governamental ultradireitista Moledet, Rehevan Zeevi, postulou que “o sionismo é por essência um sionismo de transferência”.
Prestes a assumir o cargo de primeiro-ministro do novo Estado, Ben Gurion rejeitou implicitamente a resolução de partilha da Palestina em dois Estados, aprovada pela Assembleia Geral da ONU, afirmando que “o importante não é o que os goyim (não-judeus) dizem mas o que os judeus fazem”. O desafio do sionismo ao direito internacional percorre os quase 150 anos de existência da doutrina lançada por Theodor Herzl.
Refugiados “eternos” e genocídio
A limpeza étnica gera a tragédia dos refugiados, milhões de refugiados, neste caso abrangendo várias gerações de famílias e distribuídos por todo o mundo, com especial incidência nos países vizinhos da Palestina.
Há ainda os refugiados palestinianos “internos”, os que foram deslocados das suas aldeias e cidades, das suas casas, para campos de refugiados na Cisjordânia e em Gaza. Estão, por conseguinte, ameaçados de nova limpeza étnica, como a que está a acontecer em Gaza e também na Cisjordânia – mais lenta e repartida, desenvolvida essencialmente através do processo de colonização que os dirigentes de Israel consideram irreversível.
A ONU e a legislação internacional estabelecem que os refugiados palestinianos têm “o direito de retorno”, isto é, qualquer solução regional que venha a ser encontrada implica o regresso dos palestinianos à Palestina.
Os dirigentes sionistas não admitem, sequer, que se fale nisso e a sua posição tem prevalecido, como aliás acontece com todas as ilegalidades que o regime israelita cometeu e comete.
Já em 1923 o sionista mussoliniano Vladimir Jabotinsky escrevia o seguinte na sua obra “Nós e os Árabes”: “Necessitamos de um muro de ferro que esteja em posição de resistir à pressão da população nativa (…) uma vez que a reconciliação com os árabes está fora de questão, agora e no futuro”. E a colonização, acrescentou, “tem de fazer-se contra a vontade da população nativa”.
O muro recomendado há cem anos pelo “maior judeu depois de Herzl”, segundo Menahem Begin, não é de ferro mas de betão, encimado por arame farpado a uma altura de três metros. Foi erguido para isolar as comunidades palestinianas na Cisjordânia, e deste território com Jerusalém Leste, dividindo até famílias e propriedades rurais, sem que a chamada comunidade internacional fizesse e faça um único movimento para derrubar esse símbolo arquitectónico de apartheid que replica os métodos do racismo sul-africano para criação dos bantustões. Entretanto, com imensa coerência, a mesma comunidade internacional celebra anualmente a queda do muro em Berlim.
“Devemos estar seguros de que os palestinianos não voltam”, proclamou David Ben Gurion quando assumiu a cadeira de chefe do governo do novo Estado de Israel. Em visita à cidade de Nazaré logo que foi ocupada pelo terrorismo sionista, o primeiro-ministro enfureceu-se com a presença de “tantos árabes”. “Porque não os expulsaram?”, perguntou.
Moshe Sharett, ministro dos Negócios Estrangeiros trabalhista na década de cinquenta do século passado, e considerado “um moderado”, abordou o tema considerando que “os refugiados encontrarão o seu lugar na diáspora; graças à selecção natural, alguns resistirão, outros não. A maioria tornar-se-á um refugo do género humano e fundir-se-á nas camadas mais pobres do mundo árabe”. A “moderação” sionista é, percebe-se, bastante humanista.
O direito internacional estabelece que os campos de refugiados palestinianos são transitórios, em função da existência de um “direito de retorno”. Todas as declarações e práticas de responsáveis sionistas representam um desafio permanente às normas legais, tornando as expulsões irreversíveis e os campos de refugiados definitivos. Mais uma vez o poder sionista faz pender o fiel da balança para o lado da ilegalidade, uma situação que se tornou tão banal como o assassínio diário de dezenas ou centenas de palestinianos às mãos da tropa, da polícia e dos colonos sionistas.
Os campos de refugiados são alvos fáceis para que as tropas e a polícia israelitas façam os seus assaltos punitivos regulares, além das operações de busca e prisões arbitrárias para tentar vergar o ânimo e a capacidade de resistência das comunidades palestinianas. O general Moshe Dayan já dizia há mais de 50 anos que “até agora o método de punição colectiva tem-se mostrado muito eficaz”.
Nem todos os dirigentes e porta-vozes israelitas acham suficientes as expulsões inseridas no longo processo de limpeza étnica da população palestiniana.
O chefe de Estado sionista em funções, Isaac Herzog, proclama que “não é verdade essa retórica de que os civis não estão conscientes, não estão implicados” em episódios de violência. Por isso recomenda: “vamos lutar até partir-lhes a coluna vertebral”.
Há variações sobre o mesmo tema, numa desgarrada sinistra. Avigdor Lieberman, porteiro de discoteca na Moldávia que de maneira fulminante chegou a ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa de governos de Netanyahu, propôs que “os prisioneiros palestinianos sejam transportados de autocarro para o Mar Morto e afogados”.
A situação em Gaza tem sido inspiradora da criatividade criminosa e genocida de figuras gradas do sionismo.
Eli Yishai, dirigente do partido sefardita Shass e ministro do Interior entre 2009 e 2013, manifestou a opinião de que “devemos devolver Gaza à Idade Média destruindo todas as infraestruturas, incluindo estradas e água”. A tropa está a cumprir as suas recomendações.
Moshe Feiglin, ultradireitista membro da ala “libertária” do Likud, o partido de Netanyahu, assegura que “a limpeza étnica de Gaza permitiria resolver o problema da habitação em Israel”.
Danny Yalom, ex-vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, glosa o tema na perspectiva de um outro problema de habitação, este decorrente da limpeza étnica: o dos palestinianos de Gaza. “Não lhes dizemos para irem para a praia e afogarem-se”, esclareceu. “Deus não permite isso; há uma imensa área, um espaço quase infinito no deserto do Sinai, mesmo do outro lado de Gaza. Nós e a comunidade internacional proporcionaremos as infraestruturas, aldeias de tendas com alimentação e água”.
Amichai Eliahyu, ministro do Património de Benjamin Netanyahu, leva muito a sério as tarefas que o cargo lhe exige. “O norte de Gaza está mais belo do que nunca”, aprecia. “Agora é fazer explodir tudo e terraplanar. Uma vez terminado daremos tudo aos soldados e aos colonos que viviam em Gush Khatib”, o conjunto de colonatos que existiu na aprazível costa mediterrânica de Gaza antes de 2006, ano em que o primeiro-ministro Ariel Sharon mandou retirar os sionistas do território para poder cercá-lo.
Há ainda os proeminentes políticos israelitas incapazes de esconderem as compulsões genocidas.
Rafael Eitan, ministro da Agricultura entre 1996 e 1999 e, antes disso, chefe das Forças Armadas que comandou operacionalmente a agressão ao Líbano e os massacres de Sabra e Chatila no Verão de 1982, considera que “devemos fazer tudo para tornar os palestinianos miseráveis a ponto de se irem embora; há que acabar com eles”.
Mais directo, porém, do que o rabino Israel Hess, da Universidade de Bar-Ilan, ninguém conseguirá ser: “temos toda a obrigação de fazer o genocídio”.