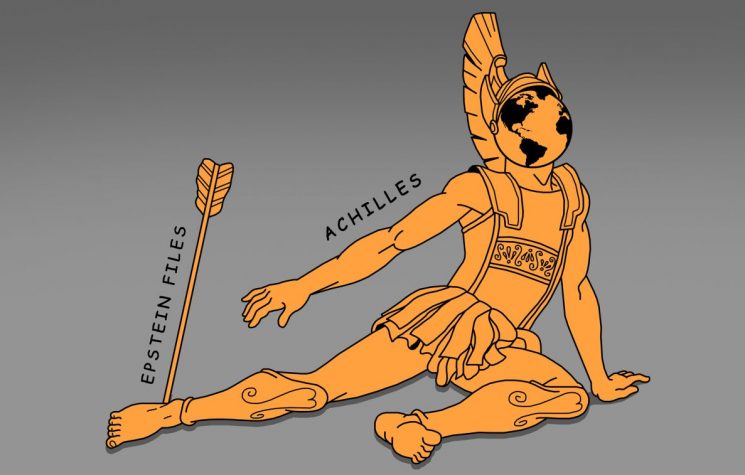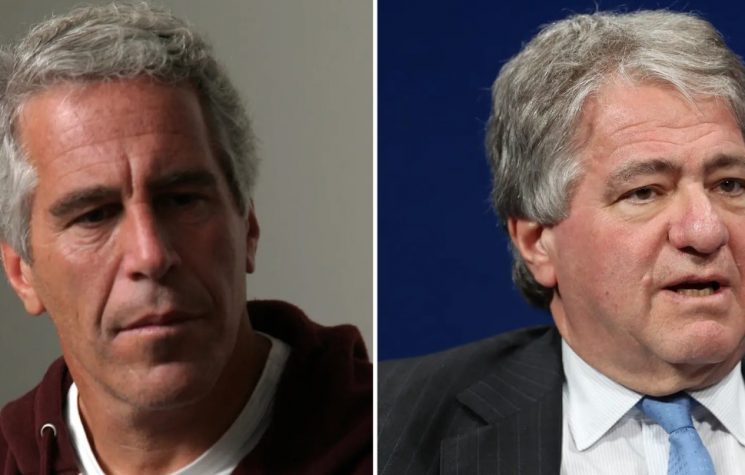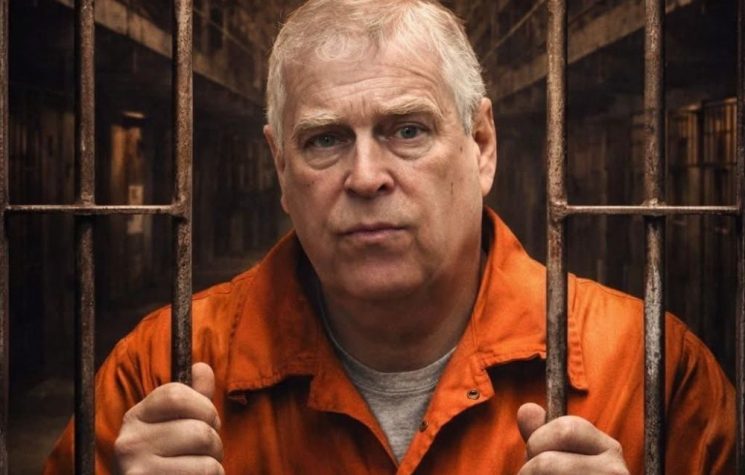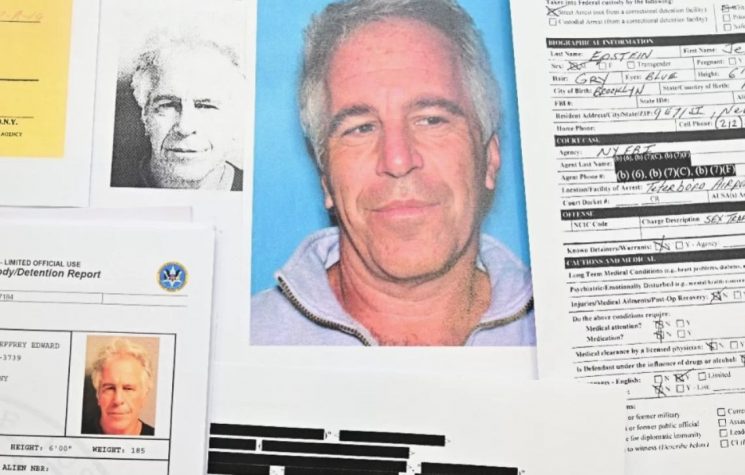A paz, a liberdade e a democracia são, pois, objetivos reciprocamente propiciadores ou conflituais?
Junte-se a nós no Telegram ![]() , Twitter
, Twitter![]() e VK
e VK![]() .
.
Escreva para nós: info@strategic-culture.su
As razões pelas quais os países europeus odeiam por princípio a Rússia, ao passo que também por princípio adoram os EUA, não deixam de me espantar e, ao mesmo tempo, de me intrigar. Algures, na sua História do Declínio e Queda do Império Romano, Edward Gibbon argumentou, a respeito da dinastia dos chamados “imperadores sábios”, os Antoninos, que eles seriam o melhor a que se pode razoavelmente aspirar em termos políticos, dadas as fraquezas inerentes à própria condição humana. Por conseguinte, quanto à realidade profunda do regime político, seria desejável que houvesse uma monarquia em sentido lato, ou o domínio de um só, de quem se deveria esperar que fosse sábio; mas acompanhada dum respeito pro forma pelas instituições republicanas, em particular o Senado, respeito que devia ser assumido como politicamente importante, mesmo que essencialmente hipócrita.
Se na Europa do tempo de Gibbon (século XVIII) as coisas eram, de acordo com o mesmo, de algum modo melhores, do ponto de vista da defesa das liberdades dos súbditos, isso ficava supostamente a dever-se, segundo aquele autor, no fundamental à existência ali duma multiplicidade de sociedades politicamente organizadas: os súbditos de um soberano podiam sempre, se as coisas ficassem demasiado más para si, escapar para espaços controlados por outros soberanos que, nesse caso concreto, poderiam ser mais amáveis. Era, aliás, esperável que tendessem mesmo a ser mais amáveis. Esta competição, pelo menos latente, entre os vários soberanos seria a verdadeira razão da maior liberdade dos Modernos por comparação com os Antigos, para os quais a alternativa ao Império quase-ecuménico seria inevitavelmente a barbárie. O monopólio político daquele matava assim a liberdade, ao passo que a mão nem sempre visível da competição entre os vários centros políticos do sistema multipolar (como hoje diríamos) europeu permitiria manter uma variedade de povos livres. Analogamente ao que outrora acontecera em Roma, acrescente-se ainda, nos países despóticos o poder dos príncipes seria ilimitado. Mas essa seria uma característica definidora das polities da Ásia, por oposição às quais os europeus foram aprendendo a pensar-se coletivamente; e por contraste com as quais Gibbon articulava esta perceção de si enquanto europeu e, em particular, enquanto britânico.
Poucas décadas depois de Gibbon, porém, os Pais Fundadores dos EUA expressaram opiniões substancialmente diversas destas. Para eles, os Estados Unidos estariam a salvo dos percalços e dos infortúnios da “velha Europa” sobretudo em virtude do esplêndido isolamento geográfico de que gozavam, o que os colocaria alegadamente ao abrigo do perigo de guerra, que na Europa constituiria a verdade política fundamental e omnipresente e, de resto, também o cimento psicossociológico capaz de manter cada Príncipe unido ao conjunto dos respetivos súbditos. Mas não nos EUA. Aí, pelo contrário, reinaria a paz, supostamente em virtude da união política geral. Por isso, seria importante, mesmo crucial manter a tal União, enquanto garantia da paz, pelo seu lado um pressuposto da preservação das liberdades. Por conseguinte, nos EUA podiam, é verdade, ocorrer conflitos com os britânicos a norte, com os “selvagens” peles-vermelhas mais ou menos em todo o lado na fronteira ocidental, e com o México a sudoeste (para além do conflito social latente que implicava a existência dum enorme número de escravos), mas isso poderia e deveria ser basicamente descartado, sublinhando-se pelo contrário a existência duma grande massa territorial e demográfica politicamente unida, para a qual a guerra seria algo desconhecido.
E isso mesmo, essa tal paz resultante da própria União, seria o bem político mais precioso dos EUA, dele resultando, por outro lado, a própria expansão e consolidação das liberdades dos súbditos. A relação entre paz e liberdade ficava assim invertida: antes, de acordo com a leitura de Gibbon, os regimes (despóticos) que propiciavam a primeira, inibiam necessariamente a segunda; e os que favoreciam a liberdade podiam fazê-lo precisamente ao mesmo tempo que ameaçavam (por causa da própria multipolaridade política) a paz. Pax Romana, mas sem liberdade, de um lado; liberdade dos europeus Modernos, mas sem paz, do outro. Isto é, claro, até ao acontecimento do verdadeiro “milagre” político que os EUA configuravam.
Algumas décadas mais tarde, também Alexis de Tocqueville glosaria este tema, vendo na dimensão continental dos EUA uma razão importante para a peculiar combinação norte-americana de paz com democracia e com liberdade, desde logo pela ausência da necessidade duma nobreza guerreira. A substituição da paixão pela guerra pela inclinação para o negócio seria permitida por este ambiente, induzindo pelo seu lado a manutenção do quadro global de paz, liberdade e democracia. O negócio pacífico, portanto, em vez da guerra; e a deslocação paulatina para Oeste, visando a promoção de cada um de assalariado a produtor independente ou empresário de si mesmo, o que evitaria os conflitos de classes, as infames “guerras sociais” de que a história europeia estava saturada e que na Europa tornavam, para o mesmo Tocqueville, a democracia invariavelmente inimiga da liberdade e em definitivo indesejável. Nos EUA (ou “na América”), entretanto, tudo isso teria desembocado numa competição de todos com todos e numa vigilância de todos relativamente a todos que, embora podendo produzir uma mediocridade moral universal (Tocqueville tinha, quanto a isso, abandonado qualquer possível “idade da inocência” sociológica), era em todo o caso preferível ao panorama europeu. O resultado global tendia a ser a deslocação continuada para Oeste e, mais amplamente, em termos políticos, a “saída” em vez do “protesto”, como sublinharão mais tarde Albert Hirschman e vários outros: em suma, “América, ame-a ou deixe-a”.
A paz, a liberdade e a democracia são, pois, objetivos reciprocamente propiciadores ou conflituais? Cumulativos ou alternativos, isto é, numa relação de tradeoff? Na velha Europa, a “narrativa” aponta sobretudo para a disjunção exclusiva; nos EUA, porém, a compatibilidade é a sugestão fundamental desta linha de comentários. Tudo isto está, é claro, ensopado numa enorme carga de mitologia. O extermínio das populações nativas, a escravização dos negros, a expropriação em larguíssima escala do México, a agressão e as ameaças generalizadas a vizinhos mais ou menos próximos, as ingerências repetidas nos negócios destes – tudo isso é deslocado para a periferia da “narrativa”, ou mesmo completamente ignorado. Se, de acordo com os próprios europeus, a democracia se opunha, no velho continente, à paz, estes objetivos tornavam-se, todavia, misteriosamente compatíveis entre si, e ambos com a liberdade, no caso particular, na exceção feliz que seriam os EUA. Mas como seria isso possível? As razões invocadas variam evidentemente muito, consoante o autor europeu de que se tratasse. De resto, no fundamental este quadro de leitura, que pensa os EUA como “exceção feliz”, pode operar dessa forma desde logo porque vê neles também uma grande ilha. Uma ilha de dimensão continental, sim, mas ainda assim uma ilha; com o que prolonga e amplia a anterior obsessão isolacionista da Inglaterra. Esta podia supostamente ser melhor do que os países europeus continentais, estar à parte e acima deles, precisamente porque estava separada (embora não demasiado distante) deles; livre das quezílias deles… mas livre também para continuar a intervir nas quezílias deles, explorando-as em proveito próprio, como é óbvio.
Os EUA acrescentaram a este esquema um alargamento geográfico óbvio: uma ilha muito maior, e também muito mais distante. Mantiveram também, ainda do ponto de vista dos europeus continentais, uma vantagem tão grande que permitia a metonímia continuada e mesmo ampliada: “Inglaterra” como substituto de “Ilhas Britânicas”? Talvez, mas um rumor de inquietação ou de mal-estar escocês, irlandês ou galês nunca desaparece neste caso por completo. Agora, porém, em escala muito maior e com uma consciência muito mais tranquila, “América” em vez de “EUA”, mesmo muito antes de a dita “América” ter finalmente comprado o Alasca ao Império russo.
Geografia física e geografia mítica
Os europeus, acrescente-se e precise-se, de algum modo sempre tenderam a ver na tal “América” aquilo que queriam ver. Friedrich Engels, por exemplo, cogitava sobre o comunismo primitivo e as origens dos sistemas familiares reportando-se de maneira obviamente fascinada aos Iroqueses… que, todavia, tinham o pequeno grande problema de serem “Americanos nativos”, como é óbvio. Mas o próprio Karl Marx, na correspondência com Joseph Weydemeyer e nos famosos artigos do New York Daily Tribune, alvitrava também que a democracia dos colonos (mesmo antes da abolição da escravatura e ainda muito mais depois dela, claro) permitia antever um futuro próximo em que o sistema político, pela sua democratização, se encaminharia para a dissolução da máquina de estado numa sociedade civil igualitária…
De inclinação bem diversa destas reflexões (que inevitavelmente trazem à mente a expressão de “ópio dos intelectuais”) eram, entretanto, as ideias muito provavelmente bem mais realistas de Friedrich Nietzsche, relativas ao facto de os EUA se poderem vir a constituir não em Pátria, mas em Fília (Tochterland) dos europeus. Numa certa fase da sua trajetória intelectual, confessamente irritado com os pequenos nacionalismos tribais daqueles (e já depois de o desapontamento com a sua Alemanha nativa o ter levado, em momentos diversos, a pensar-se como imaginariamente francês, polaco, etc.), passando assim a assumir-se como “verdadeiro europeu” acima da mêlée dos conflitos intestinos da pequena política e mesmo da Kleinstaaterei europeia, o autor de Humano, Demasiado Humano virava-se para os EUA como depositários das suas esperanças políticas mais visionárias, mais amplas e de maior fôlego. A “união europeia” a que o filósofo almejava só poderia, portanto, ser conseguida a partir de fora da própria Europa, isto é, nos EUA ou a partir deles.
Toda esta história de transposições, deslocações e geografias míticas é obviamente muito mais longa do que aquilo que aqui deixo referido, e repito que estou muito longe de pensar ter encontrado uma explicação para ela, mas parece-me inquestionavelmente importante para esta evolução o facto de os EUA terem sido um enorme recetor de imigração europeia, e de imigração europeia de origens muito variadas. Por um lado, podiam assim manter-se em parte as ligações aos países de origem: donde as identidades de “italo-americanos”, “irlandeses-americanos”, “luso-americanos” e outras afins. Mas isso coexistia sempre com a inquestionável supremacia da pertença mais tardia, “americana”, relativamente à de origem, com italo-americanos a combater, se necessário, contra a Itália, germano-americanos contra a Alemanha, etc. Quanto a isso, toda a gente se recorda, por exemplo, da personagem de Al Pacino em O Padrinho, fazendo questão de se afirmar precisamente através da sua participação no esforço de guerra dos EUA.
Esta explicação pelos fluxos migratórios é, porém, obviamente insuficiente, dado que não se aplica a muitos outros países igualmente com origem na colonização europeia e também recetores massivos de migração proveniente da Europa. O Brasil, por exemplo, talvez esteja destinado a permanecer para sempre como mero “país do futuro”, para usar a celebre expressão de Stefan Zweig. E já nem falo de outros casos, como por exemplo o da Venezuela, na verdade um dos maiores destinos de acolhimento da emigração portuguesa ao longo dos tempos…
A Rússia nunca foi, que eu saiba, recetora líquida de imigração europeia em montante significativo, mas permaneceu sempre como espaço potencialmente a desbravar e a colonizar – de forma abertamente colonial, seja de “colonialismo de povoamento” ou de “colonialismo de exploração”, ou numa mistura dos dois. No Leste europeu, as elites europeias pretenderam geralmente substituir os grupos dirigentes nativos russos, erradicá-los e impor-se em sua substituição. As modalidades para isso admitiam variações significativas. Mark Mazower, em O Império de Hitler: A Europa sob o Domínio Nazista, argumenta que o II Reich alemão optou na primeira Guerra Mundial sobretudo por um colonialismo de exploração e uma monitorização indireta, que incluiria a promoção de todos os possíveis nacionalismos “folclóricos” dessa imensa região, os quais seriam aceites pela Alemanha enquanto produtores (à custa da Rússia) de polities formalmente independentes, embora enfeudadas ao Império alemão. Já na segunda Guerra Mundial, pelo contrário, o III Reich, sob a influência das cogitações de Max Weber, entre outros, ter-se-ia virado para a tentativa dum colonialismo de povoamento que foi muito mais implacável – embora Mazower não resista a alvitrar post facto, como tipicamente fazem os historiadores, ou quiçá inspirado por eventos mais recentes, que a Alemanha teria talvez sido mais afortunada se tivesse mantido a orientação prevalecente na primeira Guerra Mundial.
Na América do Norte tudo isto esteve, desde o princípio, obviamente e totalmente fora de questão para as elites políticas europeias. Nos EUA, em vívido contraste com a Rússia, os europeus tiveram sempre de aceitar a expressão política genuína dos colonos; e foram flirtando com a nova entidade, como alternativa menos má aos rivais (também europeus) de cada um: foi desde logo esse o caso com a França e com a Espanha monárquicas, que aceitaram apoiar os colonos republicanos contra o Reino Unido – a primeira mantendo quand même algum ascendente moral (e estético) sobre a nova república, a segunda, pelo contrário, não tardando a sofrer com a chegada dos ingratos caloiros ao “concerto das nações”. Mas recordemos que a própria Rússia, entretanto, sempre quis também ela lisonjear os EUA, vendo neles uma alternativa menos má aos britânicos (existe aí uma certa coincidência de posições com a França e com a Espanha), vendendo-lhes a preço de saldos o Alasca como forma de criar para si própria uma espécie de Afeganistão ártico, ou um estado-tampão relativamente aos britânicos, equiparando oficialmente Alexandre II a Lincoln e celebrando ambos enquanto grandes libertadores da mão-de-obra servil/escrava, etc.
A inestimável criança
Colocados, por este conjunto de condutas dos europeus, em tal posição supra partes, os EUA podiam entretanto vir a ser alvo da lisonja também dos próprios britânicos, desde o célebre apelo de Rudyard Kipling a que aceitassem o “fardo do homem branco”, passando pela necessidade, enunciada por Hastings Ismay, de manter “os americanos dentro e os russos fora”, até ao mais recente convite de Niall Ferguson, formulado em Colosso, a que os EUA se assumissem plenamente como único império mundial, com isso garantindo a prossecução duma missão civilizadora que pacificaria e unificaria politicamente o mundo através da obtenção do monopólio do uso da violência legítima, monopólio em alternativa ao qual restaria apenas, para o conjunto da humanidade, o caos e a miséria.
Por conseguinte, os geograficamente distantes EUA passaram a ser considerados pela generalidade dos europeus como filhos imaginários, o Atlântico aparentemente unindo no plano simbólico aquilo que separa em termos físicos, ao passo que a Rússia, em contínuo geográfico ininterrupto e “inevitavelmente” vizinha daqueles (mas sem qualquer amor fati associado a isso), tendeu pelo contrário a ser percebida como simbolicamente não-europeia, o convívio com ela sendo portanto menos necessariamente pacífico, estando mais disponível para condutas abertamente predatórias e recebendo em paga um desprezo e uma hostilidade sistemáticas.
As relações entre os países, tal como as relações entre as pessoas, dir-se-iam por vezes neurotizadas, de tal forma que, se alguém gosta de outrem, essa outra pessoa considera ipso facto a primeira como digna de desprezo e escárnio. É, para falar com franqueza, em boa medida o que me parece acontecer na cascata de desprezos notória na relação EUA-Europa-Rússia. Quanto mais os europeus adoram os EUA, humilhando-se publicamente de forma repetida e quase com uma volúpia perversa por causa desse amor não correspondido, quanto mais os pais se sacrificam em prol da imaginária filha mimada, vítima ela mesma de problemas de dependência de drogas, tanto mais a filha os despreza e desconsidera. Mas isso mesmo, paradoxalmente, leva os europeus a um acrescido investimento (antes de mais emocional, mas depois implicando também um catastrófico investimento económico, em sentido estrito) na imaginária “criança”, na Fília mimada que são os EUA. No presente contexto de decrescentes taxas de natalidade, esta inclinação resulta, aliás, muito provavelmente ampliada. É o que me parece verificar-se com a “inestimável criança” que, do ponto de vista dos europeus, são obviamente os EUA (ver Viviana Zelizer, aqui).
Creio que se pode também falar, quanto a este caso, com toda a propriedade, dum “vírus da mente” que de forma consistente leva a Europa a desprezar os seus interesses, agindo em vez disso a favor duma entidade que considera de algum modo como “parte de si”, mas que em retorno não corresponde, ou que corresponde, pelo contrário, afastando-se ainda mais. Simbolicamente a montante dos EUA, acrescente-se, pode talvez colocar-se Israel, que os EUA tratam patentemente como um “Benjamim”, um filho tardio que é alvo da devoção embevecida e estultificada de toda a família, ao qual tudo é permitido e do qual nada se reclama. Israel é (decerto bem mais do que a Austrália…) a exceção notória e digna de menção, num panorama geral em que os EUA estão, pelo contrário, bastante inclinados para desprezar o resto do mundo, conforme enunciado com humor na justamente famosa canção de Randy Newman.
As coisas são, na interação social, em particular na história das relações entre os vários países, obviamente muito mais complexas do que isto que deixei escrito. Mas espero que não seja disparatado levar estas palavras em consideração. Face às mudanças vertiginosas ocorridas recentemente, talvez não venha muito longe o tempo em que, por exemplo, o desempenho de Mads Mikkelsen em A Salvação, de Kristian Levring, seja considerado insuportável e politicamente incorreto por alegado “antiamericanismo”. Isto que aqui enunciei configura um esquema analítico em que, pelo menos nesse caso, valerá plausivelmente a pena meditar.