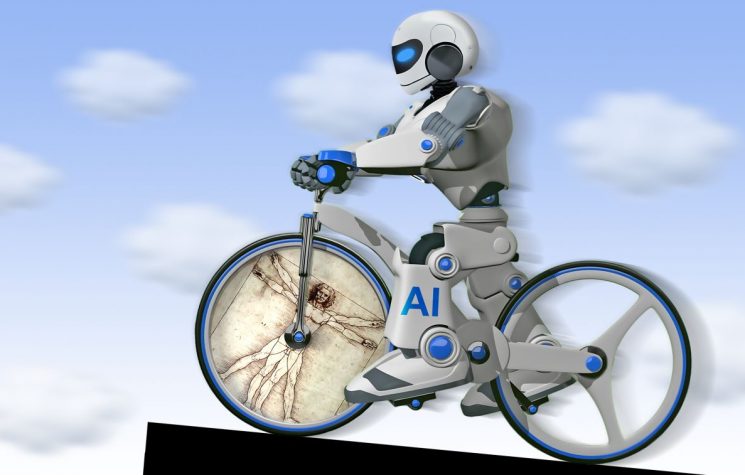Estaria plenamente nos interesses do Brasil fazer um lóbi, dentro dos BRICS, pelo incremento da dimensão “securitária” da coalizão.
Junte-se a nós no Telegram ![]() , Twitter
, Twitter![]() e VK
e VK![]() .
.
Escreva para nós: info@strategic-culture.su
Um dos fatores determinantes da era que se inicia a partir da segunda metade do século XX é a parceria entre EUA e Europa – inicialmente, apenas a Europa Ocidental, eventualmente a maior parte do velho continente. Mas “parceria” talvez seja um termo inexato. Provavelmente, o termo ideal seria “ocupação”, afinal, como definido pelo Lorde Ismay, a OTAN teria sido criada para “manter os EUA dentro, a URSS fora e a Alemanha embaixo”.
Os europeus, nesse meio tempo, acostumaram-se a um alinhamento automático com os EUA de uma natureza bastante semelhante ao dos países ibero-americanos no mesmo período, com a exceção do curto período no qual Charles De Gaulle distanciou seu país da OTAN. De resto, gradualmente a Aliança Atlântica foi absorvendo os países europeus.
A confusão é tamanha que ao se falar em “civilização ocidental”, a maioria das pessoas pensa em Europa e EUA, juntos, como não só expressões de uma mesma civilização, mas como possuindo idênticos interesses fundamentais e estratégicos. Como “celebração” dessa aliança civilizacional é que se pode pensar o Fórum de Davos ou Fórum Econômico Mundial, evento reunindo lideranças políticas, econômicas e societárias de todo o mundo com o propósito de discutir as prioridades a serem assumidas nos próximos anos.
Historicamente, os EUA e seus representantes sempre tiveram destaque no Fórum de Davos em todas as discussões, seja sobre a questão ambiental, a suposta necessidade de censurar a internet ou as transformações sociais consideradas necessárias para lidar com a crise pandêmica de 2020 ou as próximas crises sanitárias. Ali era um espaço de consenso e planejamento entre as elites norte-atlânticas.
A postura antagônica de Trump em relação aos países da União Europeia, porém, inevitavelmente mudou significativamente a atmosfera de Davos dessa vez.
As pressões e exigências pela cessão da Groenlândia, inclusive com a ameaça do uso de forças militares, acabaram sendo o móvel das interações entre as elites. Naturalmente, neste momento, os países da União Europeia não seriam capazes de montar uma resistência militar significativa aos EUA na Groenlândia. Mas o aumento da presença militar europeia na ilha de propriedade dinamarquesa parece servir simplesmente como a demarcação de uma linha vermelha.
E apesar de Mark Rutte ter se apressado a tentar encontrar algum tipo de compromisso com Trump em relação ao tema groenlandês, a realidade é que a mera ameaça e pressão de Trump contra seus supostos aliados já foi suficiente para deixar cicatrizes. Em outras palavras, por mais tíbios e covardes que sejam as atuais lideranças europeias, a ponto de ceder vez após vez, ainda assim a desconfiança e indisposição dos europeus em relação aos EUA tende a aumentar.
Talvez seja, inclusive, necessário olhar mesmo para outros setores que não a cúpula política. Entre intelectuais, think-tanks, jornalistas e influenciadores, parece ser mais fácil encontrar posicionamentos mais duros e críticos em relação aos EUA, bem como menos disposição para se reconciliar, do que entre as lideranças políticas nacionais.
O “antiamericanismo”, outrora pauta central tanto dos partidos nacionalistas quanto dos partidos socialistas na Europa, mas caído em desuso após a Guerra Fria, pode acabar voltando a ser um tópico discursivo importante nessa era de ascensão dos populismos diversos.
Em grande medida, o discurso de Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá, pode ser visto como um sumário razoável do momento geopolítico.
Ao longo de sua fala, em Davos, Carney enfatizou que por décadas o Canadá e a maioria dos países ocidentais se mantiveram alinhados à chamada “ordem internacional baseada em regras”, mesmo considerando-a parcialmente fictícia; ainda assim, era uma ficção útil e agradável. Os outros países ocidentais sabiam que as tais regras não eram igualmente aplicadas a todos os países, e que os países mais fortes eram praticamente isentos da maioria de suas normativas. Tudo, nessa ordem, dependia de quem era o “acusado” e quem era o “acusador”. Diferentes países, engajados nas mesmas ações, como uma repressão a manifestantes civis, por exemplo, receberiam tratamento diferente a depender de quem fossem seus líderes e governos: uns, receberiam não mais que uma palmada simbólica, outros seriam bombardeados e teriam seus chefes de Estado executados em cortes fajutas.
E estes países ocidentais estavam satisfeitos enquanto os países bombardeados fossem africanos ou árabes ou, ocasionalmente, algum país eslavo como a Sérvia. E isso porque, para alguns poucos países, aquela ordem permitia coletar benefícios sob a forma do extrativismo capitalista.
Agora, porém, a ordem internacional acabou. Ela não subsiste nem mesmo como farsa – isso segundo o próprio Carney. Diante de uma série de crises, muitos países começaram a perceber a integração mundial mais como um calcanhar de Aquiles do que como uma vantagem. Talvez os bens fossem barateados, mas de que adianta a disponibilidade teórica de produtos mais baratos quando, em momentos de crise, eles se tornam inacessíveis, como no período da crise sanitária. Ou quando sanções simplesmente inviabilizam as relações comerciais dos países-alvo.
Para Carney, portanto, alguns países decidiram se transformar em fortalezas, preocupadas primariamente na garantia de sua própria autonomia energética, alimentar e militar. E uma das consequências básicas dessa mudança é a decadência das organizações multilaterais. As cortes internacionais, a OMS, a OMC, o Banco Mundial, e vários outros organismos são crescentemente ignorados e desprezados pelas potências regionais – no caso dos países de fora do “eixo atlântico”, por considerarem que a influência dos EUA e seus aliados nesses organismos é grande demais; no caso dos EUA, por considerar, ao contrário, que esses organismos não atendem suficientemente aos interesses nacionais dos EUA.
Essa insatisfação paralela e cruzada é natural, na medida em que as instituições internacionais só sempre serviram aos EUA e sua hegemonia na medida em que essa hegemonia era a melhor ferramenta para constituir gradualmente um “governo mundial”, a tal “Nova Ordem Mundial” proclamada por George H. W. Bush.
A consequência desse processo de colapso do multilateralismo globalista é que as relações internacionais passaram a ser dominadas pela força. A maioria dos países de poderio mediano não está preparada para lidar com essa nova e repentina realidade. Ademais, é ingenuidade simplesmente condenar a situação atual e esperar pelo retorno aos “bons e velhos tempos” de uma ordem internacional “baseada em regras” em que as regras não valem igualmente para todos.
Carney faz, ainda, uma sugestão para esses países de poderio médio poderem lidar com a atual situação internacional: reforçar relações bilaterais com países de mentalidade e orientação semelhante, construindo pequenas coalizões de escopo razoavelmente limitado, visando tanto eliminar possíveis debilidades econômicas, quanto incrementar mecanismos de segurança.
Naturalmente, Carney está se referindo especificamente ao reforço das relações Canadá-UE, mas, em alguma medida, podemos também trazer esse tipo de reflexão para aqueles países contra-hegemônicos ou não-alinhados que não são grandes potências continentais como Rússia, China e Índia. O caso da Venezuela demonstrou que é, de fato, necessário estar preparado para lidar com a agressividade dos EUA.
Países como o Brasil, apesar do seu tamanho e da importância que se dá a ele nas relações internacionais, carecem de armas nucleares e de forças militares suficientemente modernas para se proteger de forma efetiva contra uma ação militar focada e decidida. Naturalmente, o Brasil deve buscar solucionar essas deficiências (e, de fato, o debate sobre “armas nucleares brasileiras” já se iniciou no âmbito político, militar e social), mas nenhuma mudança significativa será vista no curto prazo – razão pela qual o Brasil precisa, na verdade, desenvolver outras maneiras de garantir a própria segurança e que não dependam do simples servilismo aos EUA.
Estaria plenamente nos interesses do Brasil fazer um lóbi, dentro dos BRICS, pelo incremento da dimensão “securitária” da coalizão. Ainda assim, duvidamos que a atual administração brasileira tenha o interesse por isso, ou mesmo que ela compreenda a necessidade de uma transformação tão radical. Na ausência dessa iniciativa, no mínimo, o Brasil deveria buscar atualizar sua tecnologia militar, de inteligência e de radar, com a ajuda de parcerias russo-chinesas. Mas em um âmbito regional, o Brasil precisa reforçar os seus vínculos com países da própria América do Sul e começar, sutilmente, a tentar atraí-los e retirá-los da órbita dos EUA.
Em suma, o mero fato de estarmos discutindo essas necessidades, em vez de ingenuamente apostarmos que os fóruns internacionais criados por iniciativa ocidental bastarão para nos defender, já comprova que estamos, já, em um novo e perigoso mundo.