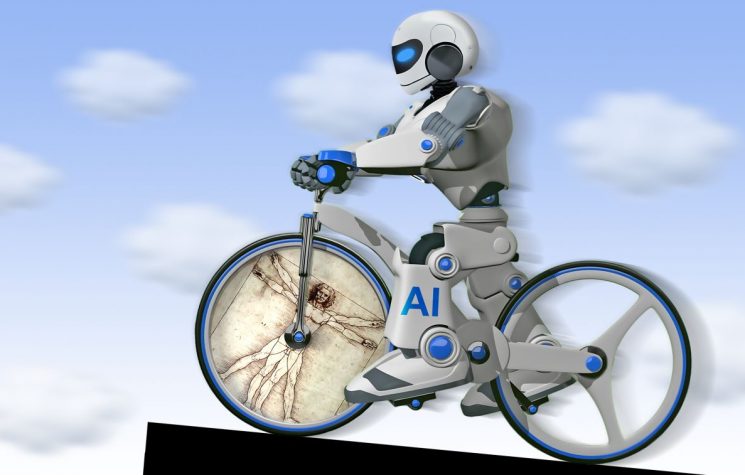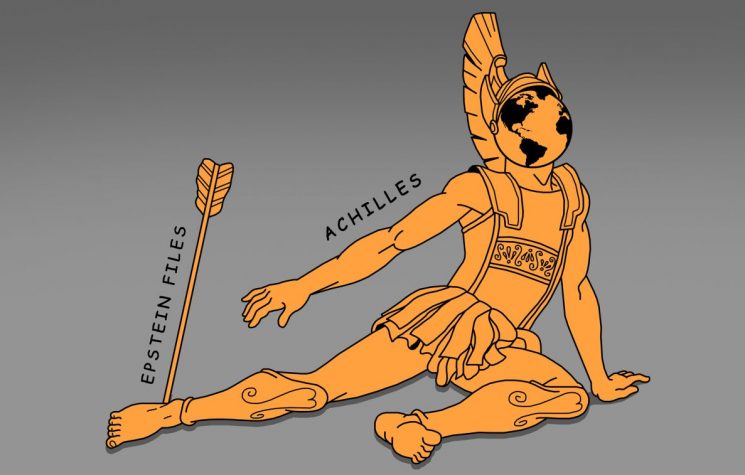Escreva para nós: info@strategic-culture.su
A respeito da recente acusação formal do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, pelo Tribunal Penal Internacional, a qual supostamente suscitou o escândalo e a irritação incontida de Joe Biden e vários outros dirigentes políticos ocidentais, convém começar por sublinhar um certo número de aspetos que podem tender a passar despercebidos ao grande público. Antes de mais, o TPI deve ser cuidadosamente distinguido do Tribunal Internacional de Justiça. Este último opera plenamente no âmbito da ONU, o primeiro não. Trata-se tão-somente do resultado dum convénio formalmente voluntário, ao qual só aderiram e só aderem os países que querem, estando a autoridade do TPI limitada a esse grupo de países. Israel, deve acrescentar-se, não reconhece a autoridade do TPI, o que cerceia drasticamente o impacto que a recente acusação pode ter na vida política deste país.
Ao contrário de Israel, a generalidade dos membros da UE, o Reino Unido e muitos outros países aceitam a validade da autoridade e das deliberações do TPI. Mas muitos outros países também, sobretudo países extremamente importantes, potências de primeiríssima linha, como os EUA, a Federação Russa, a República Popular da China e a União Indiana, não reconhecem o TPI. Isto torna de imediato o tribunal numa “coisa” muito sui generis, porque denota diretamente que se trata duma instituição destinada a visar apenas alguns, produzindo, por conseguinte, deliberações que tipicamente almejam não o “direito”, mas o torto, o enviesado; não a imparcialidade que normalmente estão associadas à própria ideia de justiça, mas o desequilíbrio, o viés e a parcialidade.
Para tornar estas ideias tanto quanto possível claras quanto ao seu conteúdo lógico, e também quanto às suas implicações práticas, imaginemos uma situação facilmente compreensível pelo senso comum dos portugueses, e talvez da generalidade dos outros europeus: um jogo de futebol, no qual o árbitro assinala apenas as faltas cometidas por uma equipa. É rigoroso e escrupuloso na aplicação desse receituário: as faltas apontadas são-no realmente; a equipa visada cometeu sem qualquer dúvida as referidas infrações. Mas há um pequeno problema: o árbitro olhou apenas para uma das equipas, deixando passar em branco tudo o que a outra fazia. Não é, obviamente, necessário ser um perito em questões jurídicas para compreender facilmente que isto não só não é direito, como é mesmo, num certo sentido, o exato oposto de direito. A questão prática resultante do exemplo aludido tenderia, aliás, a resumir-se a isto: será possível retirar com vida o árbitro do campo de jogo, evitando que os adeptos da equipa lesada o enforquem? Creio que não é necessária demasiada empatia para com a vox populi portuguesa para compreender as dificuldades da situação.
Não vou, claro, defender semelhantes empreendimentos. Mas o sentido elementar de justiça, o “fogo de Zeus” que, segundo Protágoras, supostamente arderia em cada um e em todos os homens, assim habilitando o homem-da-rua a discutir as questões fundamentais de justiça, logo também as questões políticas, torna também qualquer pessoa, creio, em qualquer parte do Globo, capaz de nutrir um módico de simpatia para com o senso comum dos portugueses.
Mas voltemos a questões mais reais e mais prosaicas. Escapando a esta noção de “direito” enquanto algo que se aplica a todos estão, obviamente, os chamados “tribunais especiais” que a ONU em tempos instituiu a respeito das repúblicas da ex-Jugoslávia e do Ruanda. Os visados potenciais das deliberações desses tribunais eram apenas os cidadãos daqueles países, o que, desde logo, dava carta branca a terceiros, procedessem eles no âmbito das chamadas “missões de paz” ou noutros contextos, para fazerem o que quisessem, estando juridicamente acima das próprias possibilidades de atuação dos referidos tribunais. Bastaria isto para indicar que nunca se tratou aqui verdadeiramente de justiça ou de direito. Longa manus dos referidos tribunais para os nativos dos países visados, brevis manus para os políticos de potências interventoras e para as tropas respetivas: mesmo que as intenções dos juízes e dos procuradores fossem as melhores (o que, de resto, obviamente não era o caso), isso teria sido suficiente para o jogo estar aqui já completamente viciado e para os referidos tribunais representarem podridão.
O TPI, no fundamental, generaliza esta lógica procedimental, deixando num certo sentido “abaixo da lei” os países que, formalmente de maneira voluntária, se submeteram, entrando do convénio constitutivo do referido tribunal; e “acima dela” os que permaneceram de fora – desde logo os EUA, a potência interventora por excelência a nível global. A teoria dos jogos enunciou há muito ideias permitindo-nos compreender que aqui temos alguém que sistematicamente evade os custos da cooperação (um free-rider por excelência, os EUA), enquanto do outro ficamos com agentes que, embora possam estar persuadidos de que estão assim a contribuir para a cooperação generalizada, correspondem na verdade, em termos práticos, àquilo que a mesma teoria dos jogos designa como suckers, isto é, otários.
Cada otário pode, é claro, persuadir-se de que a situação, embora imperfeita, constitui um passo na direção certa; de que se trata, em suma, de “take a sad song, and make it better”, para usar a expressão da famosíssima canção dos Beatles. Mas isso, em termos práticos, não passa da pobre racionalização dum perdedor sistemático: “just a sucker with no self esteem”, para usar agora os termos da (menos famosa) canção dos Offspring. Esta conduta, longe de melhorar o estado de coisas, contribui pelo contrário para a perpetuação dos seus traços que são indicadores duma profundíssima iniquidade. (Entretanto, notemos também, os EUA, num verdadeiro luxo de arrogância incontida, não apenas se mantêm na posição de free-riders como ainda forçam os demais países à condição de suckers, impondo sanções àqueles que se recusam a assinar o convénio do TPI, alegadamente como contributo para a respeitabilidade deste!…).
De resto, este quadro indica também a situação genérica dos países colonizados, por oposição aos colonizadores. Ao longo dos tempos, estes limitaram-se por vezes a vencer em termos práticos, todavia sem julgarem os que foram submetidos pelas armas: a factualidade da própria derrota seria suficiente quanto a isso. Júlio César não submeteu Vercingétorix a qualquer julgamento: limitou-se (ou alguém por ele) a prendê-lo e a matá-lo depois na prisão. Por contraste, o século 20 abundou em pretensões de julgamento dos derrotados pelos vencedores, o que por vezes deu lugar a procedimentos respeitosos da factualidade, embora com o problema mencionado supra do viés (como foi o caso dos julgamentos de Nuremberga e, em menor grau, de Tóquio), noutros casos nem sequer respeitadores duma qualquer factualidade, mesmo enviesadamente considerada, como foi predominantemente o caso com os julgamentos relativos à ex-Jugoslávia. (Quanto a isto, ver aqui, por exemplo, Diana Johnstone acerca do tema de Srebrenica).
Esta corrente de eventos culminou visivelmente no caso de Slobodan Milosevic, que foi mandado prender pelo “tribunal especial” (enquanto o seu país estava a ser bombardeado pela NATO, a mesma instituição que era dona do tribunal!), que foi mantido sob prisão durante vários anos sem que o tribunal conseguisse, por mais que se esgadanhasse por isso, provar a sua culpa, ao qual foi repetidamente negada assistência médica da sua confiança – e que foi, finalmente, induzido a morrer sob custódia, fosse por colapso cardíaco ou por envenenamento. Por conseguinte: para além do grotesco viés de partida, estamos aqui também perante um grosseiro desrespeito pela simples factualidade. Para o tribunal, Milosevic “tinha de ser” culpado, ponto final.
Expressão ainda mais acentuada desta inclinação é o caso de Muammar Gaddafi, contra o qual o TPI emitiu um mandato de captura durante a intervenção militar ocidental no conflito líbio, mandato de captura que equivaleu em termos práticos a uma excomunhão papal ou a um Fatwa, deixando ipso facto o respetivo alvo em condição de “fora-da-lei” no sentido originário da expressão: a situação de alguém que fica fora da proteção que a lei dá por princípio a todos, e que por isso passa a poder ser (ou mesmo a dever ser) livremente morto. Neste caso, exemplarmente, o TPI já nem sequer se limitou a reforçar a posteriori, e simbolicamente, a ordem dos poderes fácticos. Aqui ele antecipou a atuação destes e abriu-lhes pressuroso a portas, procedendo assim como um ativíssimo e empenhadíssimo propiciador de linchamentos. Como se vê, uma conduta bastante longe do que seria esperável de instituições supostamente promotoras de justiça, paz e civilidade…
Os protagonistas destas ações, todavia, têm uma agenda marcadamente política a administrar – o que, de resto, constitui um traço adicional da respetiva condição, que quanto a isto se assemelha mais à dos magistrados Norte-Americanos (muito mais diretamente dependentes da vida política, a qual em retorno está mais intensamente submetida a um processo de jurisdicionalização) do que à dos correlatos Europeus, tradicionalmente menos diretamente dependentes da vida política. Como é óbvio, essa agenda enfaticamente política impõe uma gestão cuidadosa de aspetos atinentes à popularidade. Daí, por exemplo, o facto de Carla Del Ponte, que tinha estado estreitamente ligada às acusações grosseiramente infundadas a Milosevic, ter (em lógica formalmente compensatória) ficado depois ligada também a acusações a vários gangsters do KLA quanto a tráfico de órgãos de prisioneiros sérvios.
Não se trata, é claro, duma qualquer preocupação genuína com “justiça”, com “direito” ou com imparcialidade (estamos aqui, de facto, no absoluto oposto duma atuação sine ira et studio), mas do correlato duma lógica política de checks and balances, na qual, preservando obviamente a intocabilidade dos “poderes superiores” da NATO, todavia se afeta assumir uma posição formalmente supra partes, como forma de, pelo menos, manter um mínimo de aparência de respeitabilidade: como forma, em suma, e como diz o vulgo aqui em Portugal, de “se lavar por baixo”, para poder pretender a manutenção da respetiva fachada.
Por contraste com o que aconteceu no caso Milosevic, depois da sua sinistra excomunhão papal que em 2011 declarou Muammar Gaddafi “fora-da-lei”, o TPI não sentiu necessidade de qualquer emendar de mão, ou duma manobra de aparência “compensatória”, visando a preservação da sua própria respeitabilidade – o que é decerto uma manifestação do tremendo ascendente de dominação simbólica de que o Ocidente Coletivo tem podido dispor neste período, mas talvez também indique um momento de hubris, e porventura de declínio.
A exaltação de autoengrandecimento que o caso Gaddafi propiciou esteve também decerto ligada às acusações mais recentes do TPI a Vladimir Putin, e também ao mandato de captura emitido contra este. Mas aqui o delírio megalómano (que permitiu inclusive absurdos superlativos, como a “acusação” de que o presidente russo teria mandado retirar crianças de zonas de guerra!…) acabou por embater na realidade factual: a Rússia não somente não é subscritora do “tratado desigual” instituidor do TPI, como (obviamente, e acima de tudo) não tem as fragilidades de que a NATO pôde tirar proveito em 2011, para proceder aos linchamentos simultâneos do dirigente líbio e do estado líbio.
Este embate da bolha simbólica com a realidade factual não podia deixar de ter consequências. E neste caso os principais protagonistas parecem ter optado por uma abordagem de tipo “jugoslavo”. Putin, obviamente, não é Gaddafi… mas daí, por outro lado, talvez possa ser transformado numa espécie de Milosevic take 2. Daí a necessidade percebida duma compensação, no plano dos checks and balances políticos. Daí, portanto, as mais recentes acusações contra Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant: Karim Khan, tal como antes dele Carla Del Ponte, sente inegavelmente necessidade de se “lavar por baixo” (quem sabe, talvez Zeus ainda acabe mesmo por fazê-lo arbitrar um jogo de futebol em Portugal…). Mas nesse caso o assunto é mais delicado ainda, pelo que a operação de “balanceamento” que já de si constitui a acusação a Netanyahu e Gallant é ela própria adicionalmente “balanceado” pela acusação simultânea a vários responsáveis do Hamas.
Que mesmo isso tenha sido alvo de desaprovação pública, e de forma tão sonora, pelos equivalentes funcionais do Papado nos tempos presentes, que são obviamente os EUA (não o TPI ou, menos ainda, o Papado propriamente dito): eis um elemento adicional de perturbação e dissonância, do qual continuaremos decerto a ter notícia nos tempos mais próximos. A menos, é claro, que o TPI aceite publicamente a sua subalternidade e se remeta ao autoapagamento – com o que, pelo menos, teríamos todos o importante ganho de se acabar com a miséria desta grotesca charada.