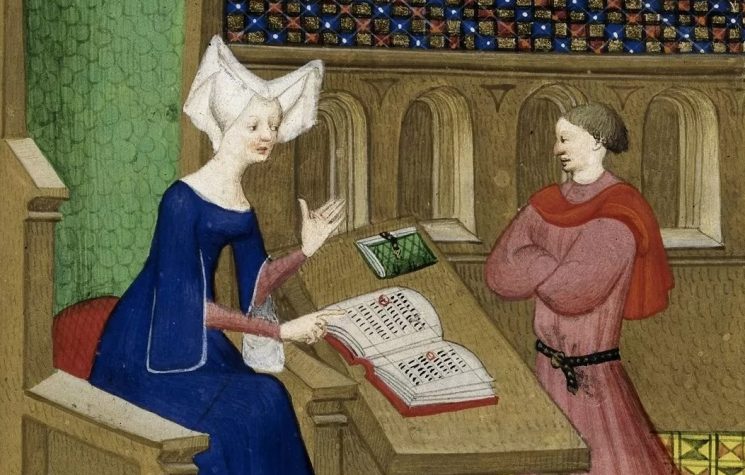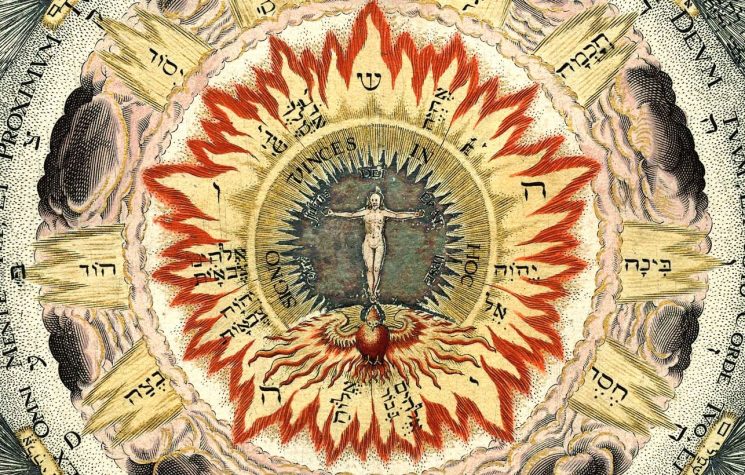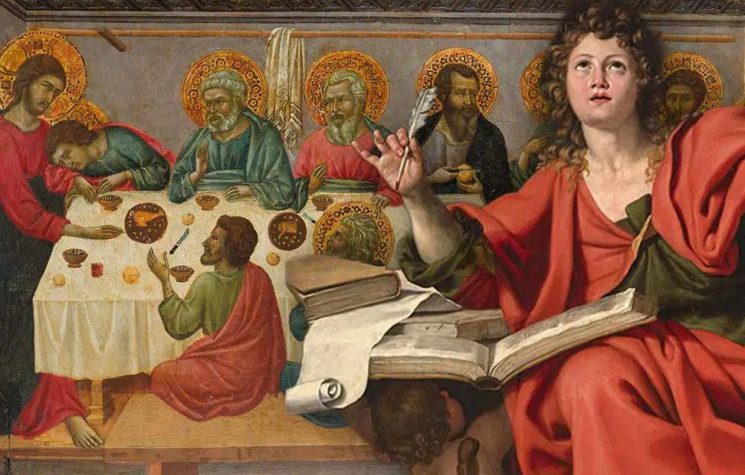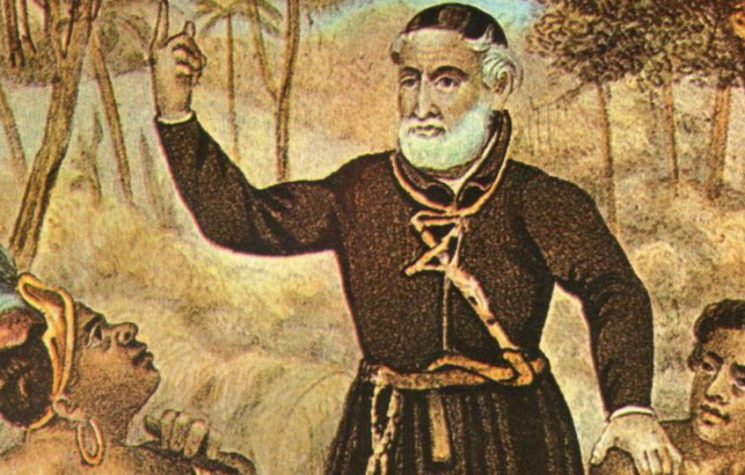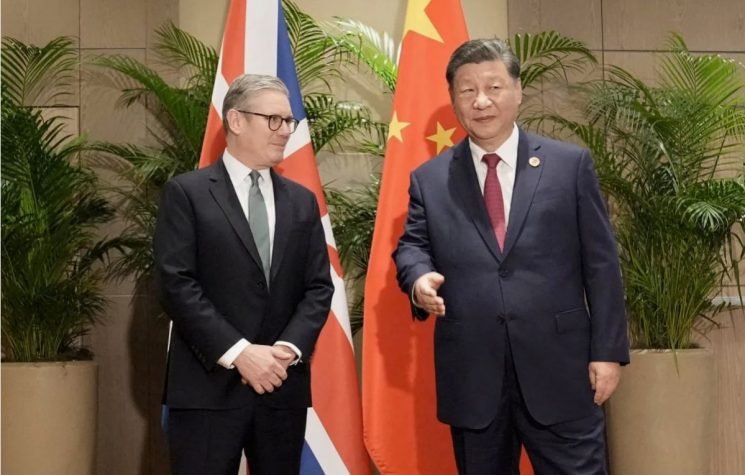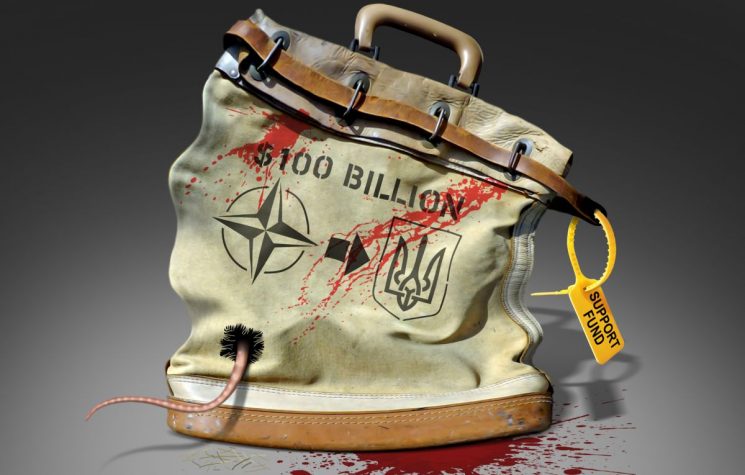A cultura malthusiana é um problema dos anglo-saxões que eles não querem corrigir.
Junte-se a nós no Telegram ![]() , Twitter
, Twitter![]() e VK
e VK![]() .
.
Escreva para nós: info@strategic-culture.su
É engraçado que o demógrafo Emmanuel Todd seja celebrado após a confirmação de suas previsões; afinal, a sua avaliação do fracasso ou sucesso dos países é independente dos eventos que confirmam as suas previsões. Todd prevê o colapso de um país com base no declínio da natalidade e da expectativa de vida. De fato, para Todd e para o bom senso, se num país as pessoas param de ter filhos e a expectativa de vida cai, esse país não tem um futuro promissor. Não obstante, o Primeiro Mundo trabalhou ativamente para que as pessoas tenham menos filhos e agora trabalha para que morram mais cedo, com a eutanásia. A queda na natalidade e a redução da expectativa de vida são vistas como um bem pelo mainstream.
Por certo, os Estados Unidos, desde Kissinger (cf. o NSSM-200, de 1974) enxergam o crescimento populacional de diversos países (Brasil incluso) como uma ameaça à sua segurança nacional, e se empenham em reduzi-las através de intermediários que promovem esterilizações e aborto. No entanto, os Estados Unidos fazem também se esmeram em reduzir a própria população doméstica (em especial, os negros). Os planos de Kissinger de castração mundial têm origem em problemas domésticos da democracia dos EUA: se os WASP (protestantes brancos anglo-saxões) têm poucos filhos, é preciso garantir que os negros e os católicos também tenham poucos filhos – do contrário, isso terá efeitos eleitorais no médio e longo prazo. Tampouco era possível prescindir dessa população e criar uma pura nação WASP, já que alguém precisava fazer o trabalho pouco remunerado. Um sistema formalmente racista prejudicaria muito a autoimagem do país e, mais ainda, sua imagem perante os povos que pretendia dominar. Assim, para permanecer uma democracia dominada pelos WASP, era preciso um esforço de propaganda para manipular os não-WASP e reduzir sua a natalidade. As aflições e Israel para controlar a demografia árabe (inclusive a árabe-israelense) têm esse precedente na democracia dos EUA.
Podemos dizer então que a cultura malthusiana é um problema dos anglo-saxões que eles não querem corrigir. Em vez disso, ao constatarem que estão em desvantagem numérica, esforçam-se para reduzir os números alheios. E como a cultura deles é honestamente malthusiana, não é difícil encontrarem argumentos para fazer a sua propaganda: menos filhos significam filhos com mais recursos per capita; ausência de filhos significa mais tempo e dinheiro para si mesma – um desafio ao patriarcado! –; menos tempo de vida significa mais qualidade de vida – e quem não quer qualidade de vida?
O fato é que os anglo-saxões têm uma atitude peculiar e contraintuitiva no que concerne à demografia. Como vimos, desde a Alta Idade Média, quando os anglos se fundiram com os saxões ao invadirem a Grã-Bretanha, eles se diferenciavam dos demais bárbaros por expulsarem camponeses nativos de suas terras, em vez de os governarem e misturarem-se com eles. Já na Baixa Idade Média, vimos que seguiram com a prática da limpeza étnica e chegaram a esvaziar uma cidade francesa (Calais) durante a Guerra dos Cem anos para preenchê-la com colonos recrutados na Inglaterra. Agora, continuemos na Guerra dos Cem Anos: foi aí que os anglo-saxões tomaram gosto pelas terras vazias e conceberam o Estado como uma oligarquia com fins lucrativos.
***
A Guerra dos Cem anos tem início graças à reivindicação que Eduardo III da Inglaterra, Plantageneta, faz ao trono da França, após o rei Carlos IV morrer sem um filho homem e deixar uma confusão sucessória. Eduardo III se sentia no direito porque sua mãe era filha do rei francês Filipe, o Belo; no entanto, os franceses já haviam decidido que as mulheres não têm direito ao trono – e, se tivessem, a filhinha que Carlos IV deixou seria a rainha. Neto do ardiloso Filipe, o Belo, o inglês queria tomar a coroa, e tinha como adversário um primo do rei morto, o nada habilidoso Filipe de Valois. No entanto, ninguém na França queria um rei inglês – e menos ainda que sua mãe, a francesa que governou a Inglaterra junto com o amante, se tornasse a rainha da França.
Na Inglaterra, já existia o Parlamento, uma instituição bem atípica que era capaz de destronar e reconhecer reis. Quando a guerra começou, o Parlamento era unicameral e composto por nobres. Assim, todas as campanhas bélicas lideradas pelo Rei da Inglaterra tinham que ser avalizadas pela nobreza no Parlamento. Em princípio, a nobreza era isolacionista, porque não via com bons olhos as despesas bélicas. Ainda assim, acabaram concordando com a ideia de a Coroa tomar empréstimos com banqueiros italianos para fazer o seu investimento de guerra. Muito dinheiro seria necessário, porque a Guerra dos Cem Anos seria, por muito tempo, uma guerra de mercenários.
De onde vinha o dinheiro da Inglaterra, que reduziria os temores de calote? Da lã. Nas palavras do historiador Georges Minois, “a Inglaterra possui uma grande fonte de riqueza: a lã, cujo papel na economia nacional pode ser comparado ao do petróleo bruto no mundo atual. O país é o principal fornecedor de matérias-primas para a indústria têxtil flamenga. […] Agrupados em sociedades que podem ser chamadas de capitalistas, [os mercadores] compram licenças de exportação do rei, e sua riqueza lhes permite desempenhar um papel social e político cada vez maior: compram terras, palacetes, tornam-se credores da monarquia e podem influenciar suas decisões” (A Guerra dos Cem Anos, p. 11).
Outra diferença muito relevante entre a arisca nobreza inglesa e a nobreza francesa era a questão territorial. Enquanto os franceses dominavam grandes porções contíguas de terra, “a grande nobreza [inglesa] não se identifica com um território. As posses dos barões são dispersas, não formam um bloco provincial […]. [Os condes] não se identificam com um território, mas são ricos e frequentados por uma clientela importante. Contam com administração própria […] e gestão eficiente dos domínios” (op. cit. p. 14-15). Assim, enquanto os nobres franceses eram apegados à terra, ciosos de sua independência frente à coroa e com pouco espírito de corpo, os nobres ingleses podiam se concentrar em Londres, formar uma espécie de sindicato e discutir ações conjuntas com o rei enquanto viviam de renda.
Pois bem: a Guerra dos Cem Anos foi, para esses nobres, uma ótima ocasião para negócios (do contrário, não teriam consentido com ela). Sempre em concertação com o rei, adotou-se a prática de recorrer ao erário para pagar mercenários para invadir a França, saquear e fazer reféns. Quando os cofres da Coroa não se mostraram suficientes, ela recorreu a banqueiros italianos e até causou bancarrotas com calotes. Os ganhos dos saques eram para todos: a Coroa, os nobres, os mercenários e a gente comum do povo – até as inglesas recebiam como presentes os objetos pessoais roubados das francesas.
A guerra começou bem para os ingleses porque eles inovaram com a contratação de um exército profissional. O normal, no mundo medieval, era que a nobreza, na eventualidade de uma guerra, fosse chamada pelo rei para combater. Ninguém na França estava preparado para combater um exército profissional.
Essa inovação inglesa foi de feitio capitalista, mais avançado que a guerra feudal. Cito mais uma vez Minois: “O exército está na origem da ascensão da iniciativa privada na Inglaterra. Desde o início do conflito, perante uma monarquia francesa que insiste em recorrer ao ban e ao arrière ban, o rei inglês mobiliza preferencialmente banqueiros italianos, cujos créditos lhe permitem recrutar tropas mediante contratos de tipo comercial. Os nobres mantêm uma ‘retensão’, algumas dezenas ou algumas centenas de soldados, cujos serviços alugam ao soberano por meio de um contrato de indenture, por tempo e quantia determinados. Na verdade, o exército inglês é formado por uma mão de obra profissional empregada por empreiteiros de guerra em conformidade às leis do mercado. Trata-se dos corpos privados, empresas privadas que, do ponto de vista militar, apresentam vantagens […], em particular o corporativismo, favorecido pelo hábito de lutar juntos, enquanto o exército feudal reúne apenas ocasionalmente homens que não se conhecem” (p. 441-2).
Como a França se livrou disso? Fortalecendo o Estado, após mil e uma desventuras. Os franceses chegaram a imitar os ingleses, mas descobriram que os períodos de paz eram um problema terrível, porque os mercenários ficavam desempregados e viravam bandos de assaltantes. A solução encontrada pelo último rei francês a lutar a Guerra dos Cem Anos, Carlos VII, o Vitorioso, foi uma reforma no Estado. Ele criou um imposto real permanente, à revelia da nobreza, e pôde ter um exército permanente – além de comprar a última novidade bélica, os canhões. “No final da Guerra dos Cem Anos”, diz Minois, “pode-se dizer que a França tem um exército ‘nacional’ no sentido de que todas as forças armadas dependem do Estado, mesmo que incluam muitos estrangeiros, enquanto a Inglaterra usa exércitos privados sob contrato” (p. 442). E podemos acrescentar aqui: a vitória da França foi mais um evento histórico que mostra a vitória do Estado nacional voltado para o bem comum sobre o Estado liberal voltado para o lucro das corporações que o compõem (tema previamente discutido aqui). O mundo imitou a França.
***
Vamos afinal à desertificação. Ao invadir a França, Eduardo II, nas palavras de Minois, “se mostrou não como o soberano do povo francês, mas como um inimigo” (p. 90). Os exércitos rapinavam os franceses com o fito de enriquecer os participantes da empreitada; e, além disso, seguia a prática normal das guerras de destruir colheitas para deixar o inimigo desabastecido. Em carta, o Príncipe Negro, o filho de Eduardo II que liderava cavalgadas pelos campos franceses trajando uma armadura negra, escreveu assim para o seu pai: “Devastamos e destruímos essa região [de Bordeaux], o que causou grande satisfação aos súditos de Nosso Senhor, o rei” (op. cit., p. 122).
Além da guerra, ainda havia a fome – que era anterior à guerra – e a peste. O resultado é que após o fim da guerra tanto a França quanto a Inglaterra perderam 40% da população.
De fato, para a França, a morte dos camponeses acarretou terra inculta, escassez de alimentos, pobreza pura e simples. O governo se empenhou em repovoar a terra inculta. Já para os ingleses, a morte dos camponeses significou a substituição do cultivo de alimentos por mais espaço para a lã, que era a principal fonte de riqueza da Inglaterra. Assim, se a regra geral é que declínio populacional gera pobreza, o caso inglês constituiu uma exceção. Menos gente significa mais riqueza para os donos de terras.