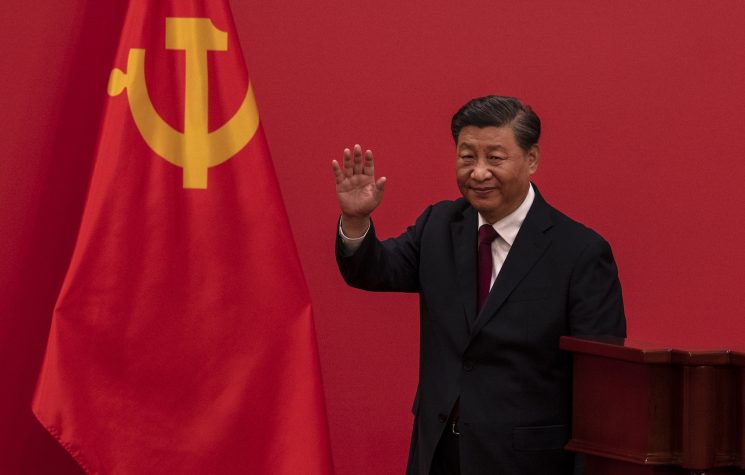Nesse mundo que surge, esta Europa, este ocidente, não terão lugar.
Junte-se a nós no Telegram ![]() , Twitter
, Twitter![]() e VK
e VK![]() .
.
Escreva para nós: info@strategic-culture.su
Podemos ler mil livros sobre a segunda guerra mundial, sobre qualquer guerra, e nunca percebermos o que significaram para os povos martirizados que as sofreram. Milhões de palavras escritas, muitas da mais enviesada das formas – no mau sentido -, horas sem fim de documentários televisivos, oportunamente disponibilizados no mainstream, não apenas não chegam, como são incontornavelmente insuficientes para sentir, entender, conhecer – com a humildade que a obtenção da verdadeira sabedoria importa –, o que sentem os povos das ex-repúblicas soviéticas quando invocam o Dia da Vitória.
Para chegarmos a tal sabedoria, não temos outra alternativa que não seja a de nos fundir, imergir e mergulhar no grupo, na comunidade, nas comemorações. Como referem muitos entendidos na questão da Inteligência Artificial, a ia nunca poderá ser “inteligente”, porque lhe falta o corpo, o corpo que transporta, condiciona e interage com a mente, sumula sem a qual não existe “inteligência”, depois, falta-lhe a emoção e todo o potencial informativo que as emoções transportam. Existem sentimentos que, uma vez transmitidos e recebidos, transportam consigo uma informação tal, de tão enorme profundidade e densidade, que não existem palavras que os possam descrever, com exceção das aproximações de artistas, filósofos, religiosos e de outras dimensões mais sentimentais de expressão da nossa inteligência.
Ora, o sentir Russo, Moldavo, Georgiano, Bielorrusso, Cazaque, Ucraniano (estou a falar de “Ucranianos”!) ou Arménio, em relação à segunda guerra mundial constitui uma dessas maravilhosas formas de expressão que apenas é possível de sentir, não podendo ser traduzida para palavras, o que aqui faço com toda a ousadia e risco de cair no ridículo. A forma como estas pessoas celebram a vitória, o êxtase e o alívio, o amor, a perda – imensa -, só podem ser comparadas, para nós portugueses e podendo cair no ridículo uma vez mais, ao sentimento de “saudade”. Se, até hoje, ninguém conseguiu traduzir por palavras em que consiste a “saudade”, por maioria de razão, também ninguém o consegue fazer com o que é o dia da vitória.
Contudo, quando nos mesclamos, como intrusos amigáveis, por entre aqueles que conhecem, entendem e sabem, em toda a extensão do seu ser, o que significou o dia da vitória, somos obrigados a questionar muita coisa. Como podemos não nos sentir transportados para a dor dos que transportam os quadros com os seus entes queridos, perdidos em batalha? Como não nos sentirmos emocionados com as cantigas de amor cantadas por soldados e amantes, tanto por esperança e expectativa da volta, como por motivação para a luta que eterniza o afastamento? Existe algo mais contraditório e altruisticamente desapegado do que dizer que se sente falta de alguém e ao mesmo tempo dizer “continua por aí, que eu te aguardo o tempo que for necessário”. Muitas das canções que os povos ex-soviéticos cantam, todos os anos, de crianças a idosos, representam essa contradição: o individuo que ama com todo o egoísmo que o amor pode representar, de mãos dadas com o membro da comunidade, o patriota, que ama tanto que consegue desapegar-se de si e entregar o seu amor a uma luta que garanta a sua volta, mas não sozinho, com os seus. O patriotismo é assim, gostar de nós, porque gostamos dos outros, dos nossos, sabendo que a nossa existência só tem sentido com eles. Seres egoístas e mesquinhos, que colocam o dinheiro, a carreira, as coisas acima de tudo, nunca o poderão compreender.
É por não conhecerem isto que tantos escrevem o que escrevem e tantos lêem o que lêem, sem perceber o básico: só podemos perceber em profundidade o outro, quando nos tentamos tornar nele! Para percebermos tudo, temos de ser tudo. E, neste sentido, a nossa vantagem seria enorme, como ocidentais: sabemos o que é ser ocidental, porque o somos e podemos saber o que é ser Eslavo, Russo, euroasiático, asiático, africano ou sul-americano, porque eles nos recebem de braços abertos se os quisermos experimentar. E como pretender conhecer, sem almejar o todo? Mesmo que não se consiga?
Ora, esta promoção da memória histórica, da memória sofrida, da memória vivida e reproduzida; a celebração das raízes, da identidade, no sentido mais profundo que a liberdade pode assumir, que consiste na liberdade de ser; a evocação da história, o seu conhecimento e a identificação das referências passadas, que pela sua importância devam ser transpostas para o futuro, como faróis na mente colectiva, que iluminam a identidade cultural, nacional, étnica e regional; o respeito pelos seus, pelos vitoriosos, mas também pelos mártires, por todos os que, anonima ou reconhecidamente contribuíram para a construção do presente e a garantia da sua projecção no futuro; toda esta profundidade, este sentimento de si, quase palpável, de quem gosta de ser o que é e que não quer ser outra coisa do que aquilo que já é, está em directa colisão com o que vemos hoje no ocidente. Num ocidente onde todos se sentem mal na sua pele e tal é promovido de muitas e variadas formas.
Se ali se celebra a pátria, no sentido material do termo, do amor ao povo, aos valores e símbolos, aos costumes e tradições, à língua e a uma cultura, aos defeitos e às virtudes, não como forma de excluir o outro – como faz o nacionalismo -, mas como expressão da liberdade, identidade e humanidade, que nos ligam a todos enquanto seres humanos e nos integram num ecossistema de diversidade que, ao invés de destruído, deve ser promovido e assimilado – a Federação Russa é um exemplo dessa integração de identidades nacionais e étnicas -, tudo isto é feito enquanto na EU se promove, precisamente, o contrário.
Na EU da mobilidade, do federalismo financeiro e da pretensa superioridade civilizacional dos povos do Norte sobre os do Sul, promove-se o Inglês, como sistema operativo universal que infecta e suprime todas as línguas dos países mais pequenos, cuja dimensão não lhes reconhece o direito à tradução simultânea na média dos eventos europeus. Se num caso se promove o apego às raízes (quase todo o sul global é assim), no ocidente promove-se o desenraizamento, a mobilidade, a superficialidade de valores e referências efémeras, contemporâneas sim, mas sem profundidade histórica e, por isso mesmo, mais facilmente passíveis de alterações semióticas constantes, consoante as necessidades do poder vigente.
Num caso festeja-se a derrota do nazi-fascismo e celebra-se a sua derrota, na EU confunde-se comunismo com fascismo, anulando as referências filosóficas da primeira e normalizando a segunda, através de uma relação superficial de coincidências que apenas confirmam a natureza humana de uma e outra. Anulando as referências históricas profundas, de uma ideologia que surge como instrumento de libertação e emancipação, comparando-a a uma ideologia reaccionária, que pela superficialidade teórica é instrumento de opressão e aprisionamento das mentes, a EU pode assim moldar os comportamentos à sua vontade, fazendo avançar a indiferença para com os comportamentos que, analisados à luza da história, logo seriam revelados como fascizantes, como sucede em Gaza, na Cisjordânia, às mãos do sionismo, cuja natureza reaccionária e obscurantista bebe a sua origem no mesmo local e estirpe que concebeu o fascismo.
É assim que assistimos ao apagamento da memória histórica dos livros da escola, à normalização da rapina e da pilhagem e ao desprezo pelo sofrimento alheio, em especial o que é produto do ocidente. O ocidente bonzinho nunca se engana, mata ou oprime. O Sul Global mau, não deixa o ocidente bonzinho salvá-lo de si próprio.
A história, tal como no tempo do fascismo, ao invés de ser vivida, passa a ser situada no seu tempo passado, sem que se estabeleça com ela a relação dialética que transpusesse, para o hoje, os ensinamentos e referências que a sua passagem e estudo pressupõem. A escravatura, o colonialismo, o imperialismo, a guerra, são abordadas como factos passados, ou característicos de outros, aos quais abusiva e falaciosamente é atribuído o epíteto. Todas essas formas de exploração são abordadas sem relação com a actualidade, desligando a nossa percepção do presente e a perspectiva futura, dos ensinamentos do passado, como se fossem irrepetíveis, como se não tivessem deixado a sua marca no que somos e fazemos, como se, por essa via, não continuassem a existir todos os dias. Quem não aprende e tem a humildade de condenar a sua própria história, condena-se a repeti-la.
Enquanto a Federação Russa celebra a sua continuidade histórica, tendo rejeitado o revisionismo dos idos 90, o ocidente celebra a sua interrupção, reescrita e a construção de uma identidade desenraizada e superficial e, por isso mesmo, mais dócil e moldável, como sucede com um qualquer animal quando retirado do seu meio, do seu grupo, do seu habitat.
Mas porque não pode a Europa Ocidental perceber isto? Porque é que, pelo menos nesta fase, eu acredito que esta capacidade de viver a história, a identidade, as raízes que conduzem a soberania e da soberania à liberdade, não apenas como indivíduos, mas como povos, não está ao alcance dos países ocidentais, em especial dos da EU, EUA e anglo-saxónicos? E porque é que isto é tão importante para a nossa emancipação e libertação e, por isso mesmo, deve ser alimentado, celebrado e vivido?
Em primeiro lugar, se somos o que somos, é porque os nossos antepassados foram o que foram, tal querendo dizer que a nossa existência, em tudo o que a compõe, é o resultado de todas essas vivências históricas. Tais vivências, quando transmitidas, quer pela genética, quer pela cultura, compõem o que designamos de identidade e essa identidade, porque é também uma expressão de liberdade – a liberdade de ser -, tem também uma relação dialéctica com a nossa identidade. Uma e outra revolvem em si, em movimento, ora somando, anulando-se e assimilando-se, para resultarem na súmula do que dizemos ser perante os outros.
Essa expressão individual de uma liberdade que não é apenas nossa, mas do todo histórico e social que nos origina, é também uma expressão da diversidade humana. Essa diversidade tem também uma relação dialéctica com o mundo, podendo integrar-se, anular-se ou fundir-se. Na sua expressão colectiva, esta identidade, quando agrupada, conduz, no final, ao que designamos de sentimento patriótico – de pertença a algo – e até à identidade nacional, que pode estar mais ou menos desligada disto tudo, consoante a abordagem mais idealista ou materialista.
A EU confronta uma e outra, como confronta a soberania e, ao confrontar a soberania, acaba a confrontar a identidade e liberdade individual. Ao suprimir as referências, que funcionam como protecções contra os movimentos assimiladores indesejados, acabamos vítimas da expropriação histórica. A nossa história não se funde para originar algo novo, pelo contrário, é suprimida e substituída por algo invasivo. Os portugueses passam a comer Hamburgueres e Pizzas, mas não vemos os Alemães fazerem da Paelha espanhola a base da sua alimentação. Se é que me entendem. Vejo as nossas TV’s e rádios inundadas de música anglo-saxónica, mas não vejo tal acontecer com a música portuguesa nas rádios e Tv’s dos outros. Não, não é uma integração, trata-se de uma invasão e uma substituição, feita por quem é mais forte, apenas porque é mais forte.
Isto acontece porque o movimento mais forte, do centro europeu, tem também a pretensão de ser superior, assumindo uma componente “civilizadora”, presumindo ensinar-nos a democracia, os direitos humanos, a transparência, o governar. Sem nos apercebermos, damos conta de que o país, todos e individualmente considerados, já não mandamos nas nossas contas, nos programas de governação, na moeda, nas principais empresas e sectores, no nosso próprio território. É a EU quem decide quanta sardinha podemos pescar nas nossas próprias águas, mas a mesma EU que nos impõe a quota da sardinha, é incapaz de obrigar a Alemanha a cumprir os limites do Pacto de Estabilidade. Não existem meias liberdades, apenas inteiras. Não existem meias soberanias, apenas inteiras. Portugal já não é uma república soberana e, sendo a soberania a base da nação, também deixará de ser nação, a continuar assim. Com a conivência de quase todos… Quase!
Estar na EU não significaria necessariamente isto; poderia significar a amizade, a cooperação, sem esta componente invasiva, doutrinária, civilizadora, do Norte para o sul. Mas isso não seria esta EU, seria uma outra que ainda está para ser construída. Esta EU não consegue compreender este sentimento, esta celebração, porque só a entende quem é vítima, só a entende quem se liberta de um opressor e nunca quem oprime. O opressor nunca se confunde com a vítima, nem quando se disfarça. É por isso que Lavrov disse, e com razão, que os ocidentais não são sinceros no combate e condenação do fascismo. Para eles é uma fachada e percebe-se isso. Para fazê-lo teriam de condenar a sua própria história. Seja porque não a conhecem, seja porque não a estudam, seja porque gostam dela, nunca o poderiam fazer.
A história dos países da Europa Ocidental é uma história de opressão e invasão. Não é necessário ir muito longe: por alturas da primeira guerra mundial, o que estava em discussão era a pilhagem das colónias pelas maiores potências imperialistas, todos querendo a sua parte no bolo. No rescaldo da guerra, no momento da divisão dos despojos, por exemplo, na imposição do mandato Britânico e Francês, houve um país que não foi tido em conta, por acaso, um dos maiores países do mundo: a URSS. As potências industrializadas dividiram as colónias a seu gosto, com desprezo pela URSS, Turquia e Alemanha – intervenientes directas na guerra. Muita da reacção alemã posterior terá tido a ver com este destratamento.
Na segunda guerra mundial, qual foi o comportamento ocidental face à ameaça do nazi-fascismo? Do sul português à Alemanha, a Europa estava varrida por uma onda fascista. Mesmo a França, que se dizia livre, não o era. As forças fascistas e colaboracionistas internas eram tão fortes, que capitulou em menos de um mês. Quando vemos a força de Le Pen e o “entreguismo” de Macron face à oligarquia multinacional ocidental, percebemos que o país esteve muito longe de ficar livre de fascistas.
Aliás, a França (Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos) é um exemplo de que o fascismo existe nas sociedades mesmo quando estas não se declaram como tal. O fascismo é uma força social reaccionária que prolifera perante a impassividade de uns e a traição de outros, aproveitando-se da desilusão dos que vêem por resolver os seus problemas. A Inglaterra foi mesmo a principal pátria das teorias fascizantes, bem como do sionismo, ambas instrumentos reaccionários que visavam defender a decadência do império britânico. Mais tarde foi o próprio povo britânico que foi vítima da traição das suas elites, quando o monstro nazi-fascista saiu de controle e mordeu a mão ao próprio dono.
O facto é que só países como a Rússia, que perdeu quase 20 milhões de pessoas às mãos do nazi fascismo e que de 80 em 80 anos sofre uma invasão ocidental, a Bielorrússia que perdeu mais de 20% da população, a Coreia do Norte que perdeu 1/3 da população entre a guerra da Coreia, as sanções e as fomes por maus anos agrícolas, amplificadas pelas campanhas de desestabilização e embargos perpetrados pelos EUA, Cuba que sofre um criminoso embargo há mais de 60 anos, o Vietname que viu milhões mortos, chacinados, solos e rios envenenados pelos EUA, a China que sofreu o século da humilhação às mãos da Inglaterra, EUA, Japão e outros… E África… O que dizer de África? Que ainda hoje sofre com o neocolonialismo que a impede de prosperar com o que é seu.Mas também a Venezuela, o Chile que sofreu com Pinochet às mãos da CIA, a India salva por Ghandi, a Palestina que sofre um holocausto sionista, o Iraque que perdeu mais de um milhão de pessoas assassinadas pelos EUA e “aliados”…. Apenas o sul global inteiro pode entender em que consiste, para a Federação Russa, celebrar o dia da vitória. Esse entendimento está velado ao ocidente.
Não se trata de algo acessível ao agressor. Para que o ocidente o sentisse teria de ser humilde o suficiente para se colocar, misturar e aceitar a perspectiva do outro. Como esperar isso de Macron, Starmer e Merz que escondem a palhinha e o guardanapo quando entra a comunicação social? Como esperar isso de Úrsula Von Der Leyen que esconde as negociações das vacinas de Covid de todos os europeus? Como esperar isso de quem nos quer, novamente, armar em agressores e sob a onda de um novo fascismo, mais fofinho e sofisticado, e voltar à agressão desmedida?
Os últimos três anos, de revisionismo histórico, apoio e normalização dos nazis, recrudescimento do fascismo, promoção e financiamento do sionismo, conivência com o genocídio, sacrifício do povo ucraniano, demonstram que esta elite europeia é incorrigível e que, lá bem no fundo, esta europa não se civilizou, apenas se sofisticou, como resultado do acumulado com a pilhagem.
Esta Europa, este ocidente, não saberá, como já se denota, comportar-se num mundo livre, em que cada nação oprimida possa prosperar e crescer, como é e gosta de ser, não como o ocidente lhe impõe que seja, para tal financiando os traidores que destruiriam a sua identidade, soberania, a sua liberdade. Nesse mundo que surge, esta Europa, este ocidente, não terão lugar. As muitas belas palavras que proferem nunca serão belas o suficiente para transformar em vítima, quem é agressor! E muito menos, para transformar a vítima em opressor.