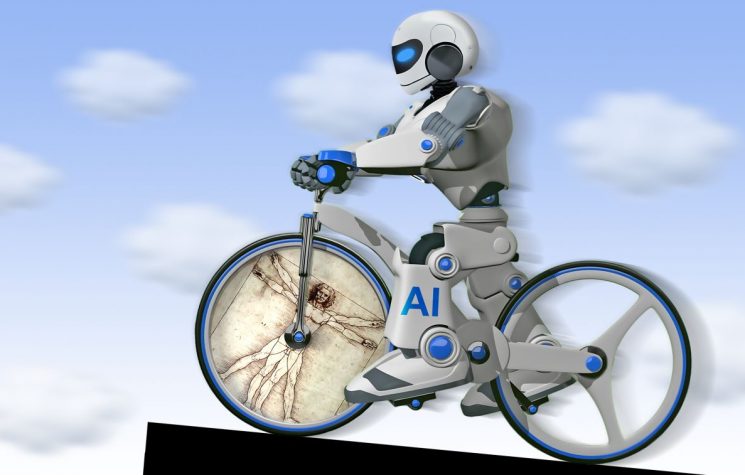Escreva para nós: info@strategic-culture.su
Tem sido repetidamente afirmado, a respeito da política externa dos EUA, que esta, em vez de guiada por princípios de estrito “realismo”, tenderia para a norma da propagação de regimes ditos “democracias liberais”. Esta tese, não raro enunciada de forma entusiástica e apologética pelos que insistem em ver nos EUA o portador do archote de liberdade, democracia e direito humanos ao nível mundial, é subscrita também (ainda que com intenções diversas) mesmo por politólogos oficialmente “realistas”, como John Mearsheimer.
Segundo este, residiria aí precisamente, e pelo contrário, o problema ou vício principal da política externa norte-americana. Em vez de se limitarem a proceder “realisticamente”, os dirigentes dos EUA insistiriam, como mitómanos autenticamente convencidos da sua missão de novos Cruzados, em espalhar o Evangelho demoliberal – a bem ou a mal, pela persuasão ou na ponta da espada. Isso constituiria uma enorme fonte de mal-estar: quer para os próprios EUA, quer para os recetores de tal receituário. E contra tal conduta, precisamente, urgiria começar a proceder de forma mais “realista”, de preferência dando ouvidos ao próprio John Mearsheimer.
Substantivamente, os EUA não são uma democracia
Tudo isto seria válido para uma panóplia muito vasta de temas, indo designadamente da atitude dos EUA face a Israel (quanto ao que um maior distanciamento de Washington face ao estado sionista se imporia, por oposição ao que teria sido conseguido pelo lobby israelita na política norte-americana), até à questão ucraniana, relativamente ao que seria recomendável uma maior transigência face às legítimas preocupações de Moscovo relativas a segurança, em particular desistindo da ideia de integração da Ucrânia na NATO.
Independentemente da simpatia que estas tomadas de posição de Mearsheimer tendem (como é óbvio) a suscitar, devemos todavia sublinhar que estamos aqui perante um típico caso de a relação “Falso implica Verdadeiro” ser ela mesma uma relação verdadeira. Utilizando outra notação, podemos dizer que Mearsheimer está fundamentalmente correto nas conclusões que retira, sim; mas decididamente não pelas premissas de que parte, ou pelas razões que invoca.
De facto, se há coisa que se pode argumentar NÃO constituir o fio condutor da política externa dos EUA, é ela corresponder a uma produção sistemática, por alegada partenogénese política, de “democracias liberais”, o que quer que se entenda por essa escorregadia expressão. Há vários casos ilustrativos do que aqui afirmo, a história da influência dos EUA na vida política dos países latino-americanos sendo decerto a primeira (mas não a única) coisa que se deve mencionar quanto a esse tema.
Os Estados Unidos, entendamo-nos desde já também quanto a isso, não são eles próprios substantivamente uma democracia. Como notado por Gillens e Page há já mais duma década (ver aqui), a aptidão de fazer dum qualquer tema um tópico de debate político, bem como a capacidade de fazer prevalecer quanto a isso uma qualquer opinião, estão nos EUA diretamente dependentes das influências económicas, ou do peso da riqueza. Se um grupo for rico, consegue fazer das suas preocupações um tema de debate; e consegue também usualmente, quanto a esse tema, fazer prevalecer a sua opinião. Se o grupo não for rico, simplesmente não consegue.
Este facto não tem nada a ver com conceitos como “democracia consorcional” versus ênfase excessiva no domínio da maioria; ou com direitos das minorias versus possíveis tendências para a “tirania da maioria”; com federalismo versus unitarismo (ou centralismo); com divisão de poderes enquanto checks and balances; com soberania popular versus peso da constituição escrita – com nada disso. Todos esses são decerto temas muito interessantes quando se trata de estudar um sistema político, e obviamente cruciais para compreender a forma como os EUA oficialmente se percebem – para além, bem entendido, da própria discussão mais ampla, relativa ao obscuríssimo conceito de “democracia liberal”. Mas tudo isso é muito pouco relevante para compreender como as coisas realmente se passam na vida política dos EUA. O que interessa mesmo é o acesso, ou não, à riqueza.
E deve sublinhar-se, adicionalmente, que Gillens e Page admitem não levar em conta aquilo que designam como “terceira dimensão” do poder, ou seja, a capacidade para induzir os demais a apoiar, ou a opor-se, ao que quer que seja. Em suma: a capacidade para influenciar os demais grupos (assim endogeneizando a sua “procura política”), de tal modo que, quando estes manifestam os seus quereres, a escala de preferências do grupo dominante está já implícita nessa operação, seja sob a forma de adesão a sistemas ideológicos mais ou menos coerentes, de mera aceitação da factualidade por hábitos adaptativos, ou doutra qualquer forma.
Ora bem, relativamente a tudo isto, se pensarmos que a generalidade dos mass media e do próprio sistema de ensino são, nos EUA, tipicamente propriedade de grandes grupos económicos, desnecessário é sublinhar o quanto a possível consideração desta tal “terceira dimensão” nos levaria a confirmar, mas obviamente reforçando-o e acentuando-o de forma muito significativa, o diagnóstico de Gillens e Page: os EUA são, em substância, uma plutocracia.
Todavia, do ponto de vista formal, os mesmos EUA têm também de ser considerados, quer se goste disso ou não, uma democracia; aliás, uma das mais antigas do mundo – se bem que apenas quanto ao sentido estrito de democracia “branca” e “masculina”. O sufrágio universal (branco e masculino) para a câmara baixa do legislativo e para a presidência existe ali há quase dois séculos, desde a década de 1830. Ou seja, muito antes do respetivo triunfo na Europa, o qual, embora com exceções pioneiras muito pontuais, ocorreu apenas, de forma duradoura, já no século XX.
O funcionamento efetivo deste sistema político afasta-o radicalmente, sim, dum ideal de democracia substantiva: fraca definição ideológica dos dois partidos dominantes, que são fósseis políticos, um deles aliás anterior à própria invenção, na Europa, da antinomia esquerda-direita; grosseira promiscuidade da relação dos partidos com o poder económico, através da escassez do financiamento público daqueles, da ausência de limites para o financiamento privado e do lobbying plenamente legalizado; fraqueza generalizada das instituições do estado face à chamada “sociedade civil”, fazendo tendencialmente dos EUA menos uma verdadeira res publica do que um condomínio dos ricos, a própria condição de cidadão tendendo ali a ficar dissolvida na de contribuinte (tax payer); sistema eleitoral maioritário à primeira volta (first past the post), impedindo o multipartidarismo efetivo e em vez disso induzindo o bipartidarismo fático; definição arbitrária dos círculos eleitorais (gerrymandering); impossibilidade de acesso aos mass media por parte de quaisquer possíveis terceiras forças; pulverização e precariedade dos sistemas de recenseamento e de controle das contagens dos votos… e poderíamos decerto continuar por muito tempo mais, adentro desta linha de libelo.
Mas nada disso obsta a que, apesar de tudo e no fim de tudo, os EUA sejam uma democracia do ponto de vista formal, ainda que reconhecidamente sofrendo de inúmeras fraquezas e mazelas.
A propagação da democracia não orienta a sua política externa
As relações dos EUA com a vizinha América Latina, porém, indicam uma afinidade sociológica sistemática não com forças ou tendências democráticas (mesmo que meramente formais), mas com o exato contrário disso. As “repúblicas das bananas” são marcadamente oligárquicas na sua textura social profunda, e muito pouco inclinadas para a democracia efetiva, não apesar da influência (supostamente benfazeja) dos EUA, mas sobretudo por efeito da sua influência (maléfica), induzindo a destruição sistemática de quaisquer inclinações através das quais os latinos pudessem (ou possam) ser tentados a ameaçar a dominação das respetivas oligarquias, normalmente encostadas ao patrocínio do Grande Irmão setentrional.
Os resultados práticos dessa atitude são, de resto, frequentemente discrepantes daquilo que nos próprios EUA é considerado o mínimo de decência, dado o caráter formalmente democrático do regime político daqueles. Mas isso é naturalizado através duma operação de afastamento radical, ao nível simbólico, da América do Norte relativamente ao conjunto das sociedades a sul do Rio Grande. No ambiente destas, genericamente shithole countries onde supostamente pululariam os “filhos-da-puta”, os EUA limitar-se-iam por princípio a escolher o filho-da-puta deles. As alegadas diferenças culturais profundas explicariam tudo o mais.
Algo de fundamentalmente análogo nos resultados – se bem que não necessariamente nas motivações profundas – pode ser dito acerca dos países da região do mundo usualmente conhecida como Médio Oriente. Depois da queda da república secular e socialista do Afeganistão, em finais do passado século, tivemos já, no século presente: a queda do estado secular do Iraque, em 2003; depois a da Líbia, em 2011; e finalmente a da Síria, em 2024. Em todos estes casos, a queda de regimes republicanos e seculares esteve, de facto, associada a um colapso das próprias instituições estatais.
Neste sentido, podemos acrescentar que os EUA são, não apenas adversários figadais de quaisquer repúblicas seculares (socialistas ou mesmo não-socialistas), mas verdadeiramente grandes destruidores de estados. A sua política externa, longe de inspirada doutrinariamente por quaisquer projetos mais ou menos remotamente fundados num ideário democrático ou iluminista, parece pensável, isso sim, como ilustração da impotência da razão na história universal; ou, se se preferir, da famosa boutade: “Immanuel Kant, but Gengis Khan”… Em todos estes casos, pelo menos, o Gengis norte-americano pôde. E, dado que pôde, fez realmente.
Todos os estados mencionados tinham emergido de processos de descolonização, tendo também todos eles fronteiras largamente “artificiais”, ditadas pela dominação colonial anterior; e correspondiam por isso a “amálgamas” sociais, do ponto de vista étnico e do religioso, em princípio difíceis de consolidar e de tornar coerentes. Todos estes estados foram assim – sempre – estados frágeis, ameaçados de desmoronamento pelo seu caráter sociologicamente heteróclito. Todavia, é também perfeitamente argumentável que a referida consolidação depende muito mais do sucesso efetivo dessas formações sociais do que da sua coerência étnica ou religiosa prévia. Países como a Suíça e a Bélgica demonstram bem o quanto isso é viável.
A experiência global dos países saídos de processos de descolonização depois de 1945, entretanto, parece evidenciar um panorama onde predomina a estabilidade, embora pontuado pela emergência ocasional de tendências secessionistas. O caso mais famoso destas últimas é, obviamente, o inicial: o da partilha da antiga Índia britânica, onde a obsessão britânica de negar à Rússia/URSS a eventual saída para “mares quentes”, associada às boas relações Índia/URSS, ditou mesmo antes da independência o imperativo de criação do “país dos puros”, o Paquistão – sendo que, anos mais tarde, a Índia obteria uma vendetta parcial relativamente a isso, impondo pelo seu turno a secessão do Paquistão Oriental, rebatizado como Bangladesh.
Em África, por outro lado, o panorama tem sido genericamente de estabilidade, embora pontuado pelos casos da Eritreia, do Biafra, do Tigré, de Cabo Verde e, mais recentemente, do Sudão do Sul. O pan-africanismo terá decerto contribuído para travar secessionismos; mas deve dizer-se que também nunca chegou a produzir fusões. A haver tendências para a alteração das fronteiras coloniais, devem previsivelmente corresponder a pulsões secessionistas, os nacionalismos correspondentes alinhando assim pelas tendências centrífugas que deram origem às próprias descolonizações (décadas de 1940 a 1970) e depois aos desmembramentos da URSS, da Jugoslávia e da Checoslováquia, na década de 1990.
Tendências opostas, de fusão, análogas à que produziu a reunificação da Alemanha em 1990, são evidentemente pensáveis, mas até agora não produziram quaisquer efeitos palpáveis. O pan-arabismo gerou sem dúvida, quanto a esse respeito, ideias interessantes, como o projeto de união do Egito à Síria, ou à Líbia; ou visando a absorção do Kuwait pelo Iraque; ou do Líbano pela Síria; ou mesmo a fusão desta com o Iraque. Mas todas essas ideias nunca passaram de miragens.
A longa duração de Sykes, Picot e Balfour
Quanto a isso, pode dizer-se, o tratado Sykes-Picot deixou um legado histórico imensamente duradouro, o espaço árabe permanecendo dividido em várias unidades, nenhuma delas grande o suficiente para atrair as demais. O Curdistão, entretanto, continuou não-reconhecido, embora possa permanentemente ser usado por terceiros, para ameaçarem as várias entidades estatais circunvizinhas. Pelo seu lado, a Turquia, que percorreu um longo caminho depois do nadir em que a deixou a derrota na I Guerra Mundial, parece nos nossos dias apostada num projeto irredentista, por um lado rejeitando qualquer concessão às pretensões curdas e, pelo outro, reclamando mesmo, opostamente, territórios adicionais, designadamente da Síria.
Quanto às polities árabes, pode dizer-se, o Ocidente em geral, e os EUA em particular, têm mantido uma relação fundamentalmente harmoniosa com o mundo dos principados tradicionalistas (e patrimoniais, a dinastia reinante dando o nome ao próprio país): Arábia Saudita e emiratos do golfo. Relativamente a este grupo, os acordos que estão na base do petrodólar parecem constituir o elemento configurador principal: as monarquias tradicionalistas transacionam petróleo em dólares norte-americanos, assim sustentando a aceitabilidade universal daquela moeda; e os EUA, pelo seu lado, garantem armamento e proteção, em particular relativamente às possíveis tendências expansionistas que o pan-arabismo republicano e secular (e de inclinação socialista) em tempos idos pudesse revelar – e em determinadas alturas realmente revelou.
Este acordo pode, registemo-lo outrossim, a qualquer o tempo sofrer um slippery slope para a respetiva “sopranização”, isto é, para o puro e simples racketeering, os EUA basicamente forçando exações das monarquias árabes como garantia contra agressões que são sobretudo eles mesmos a tender a cometer. Em todo o caso, deve notar-se que esta aposta foi julgada pelo Supremo Tribunal da História Universal, tendo obtido aprovação com louvor e distinção.
Os recentes acontecimentos na Síria constituem talvez o episódio de fecho desse ciclo. Tudo isto é, claro, uma história inacabada: hoje-em-dia já ninguém acredita em “fins da história”. Mas, se estes existissem, ou se o presente estado-das-coisas quisesse ter a pretensão arrogante de se apresentar como tal, então o triunfo não teria decerto sido o de qualquer evangelho mais ou menos secularizado de direitos do homem, laicidade, iluminismo e democracia – mas o exato oposto disso.
Mais ainda, deve notar-se que, se até certa altura estes estados republicanos e seculares foram influenciados pelo exemplo soviético, sendo oficialmente de inspiração socialista e tendo regimes de partido único, como aliás ocorreu em inúmeros países ex-colónias, mais recentemente essas inclinações socialistas tinham já sido suprimidas e alguns desses regimes passaram também a ser multipartidários, designadamente o sírio com Bashar al-Assad. Quanto a isso, a evolução permanece próxima da de vários outros países com passados coloniais: Angola e Moçambique, a título de exemplos, seguiram trajetórias em boa medida análogas, evoluindo do partido único (outrora considerado a garantia principal da permanência do próprio estado, evitando os secessionismos) para o multipartidarismo; e da orientação oficial socialista para um largo consenso em torno da chamada “economia de mercado”, ou pelo menos para economias mistas.
Tudo isto, como é geralmente admitido, veio predominantemente associado a doses elevadíssimas de corrupção e de nepotismo; e estas sociedades estão, ainda hoje, muito longe de garantir o mínimo correspondente à decência humana à generalidade das suas populações. Mas, por contraste com o Médio Oriente, em nenhum desses casos da África austral os EUA insistiram na destruição dos estados, embora os outrora partidos únicos de orientação socialista (MPLA e Frelimo) tenham permanecido partidos dominantes. As principais oposições respetivas (Unita e Renamo), em tempos armadas e financiadas pelos EUA e pela África do Sul Branca, permaneceram também perdedores com muito pouco desportivismo político, e marcados por uma notável tendência para uma conduta política à la Guaidó.
Todavia, isso tem permanecido meramente latente; e estes estados têm sido capazes de sobreviver, cada um deles encontrando o seu particular modus vivendi de coexistência com os EUA, não obstante a existência de tendências secessionistas organizadas, como a da FLEC no exclave de Cabinda, no noroeste angolano, ou mais recentemente a irrupção de terrorismo supostamente fundamentalista islâmico na província de Cabo Delgado, no nordeste de Moçambique.
Mas repita-se: embora secessionismos e tendências para o colapso estatal, com o dedo dos EUA por detrás, não sejam totalmente de excluir, tudo isso tem permanecido adormecido, desde os tempos em que a intervenção de Cuba, no caso de Angola (e opostamente ao ocorrido, por esses anos, no caso da Etiópia), foi capaz de assegurar não apenas a integridade do estado, mas a vitória do partido ainda hoje no poder – e mesmo, como importantes benesses adicionais, a conclusão da descolonização da Namíbia e o fim do Apartheid sul-africano.
Médio Oriente: entre etnocracia e monarquias patrimoniais
No chamado Médio Oriente, entretanto, temos um cenário quase diametralmente oposto: capitulação de um regime republicano e secular depois de outro, acompanhada do quase desaparecimento de tendências socialistas, o mesmo podendo dizer-se dos ideais pan-arabistas. No território da Palestina, reforço a médio e longo prazo da posição da etnocracia sionista, o Rassenstaat de Israel continuando intocável na sua empreitada não apenas de consistente discriminação de base etno-racial, mas verdadeiramente de extermínio e/ou expulsão bem-sucedidas dos “nativos”.
Em redor, os principados árabes são mantidos em respeito, aceitando de bom ou mau grado a subalternidade face ao conglomerado “USrael”. As próprias repúblicas seculares remanescentes, como o Egito e a Argélia, mantêm entretanto um muito cuidadoso low profile, ditado pela prudência. E as oposições, na medida em que tenham sobrevivido, tenderam a refluir para modelos “identitários”, as afinidades étnicas ou religiosas de base passando a constituir a espinha dorsal das resistências mais importantes, mesmo nos casos em que as organizações em questão (como o Hamas ou o Hezbollah) tinham de início sido promovidas por USrael, como forma de semear a divisão entre os opositores.
Quer isto dizer que o mundo do Médio Oriente só é capaz dessas formas de oposição organizada, como um discurso “orientalista” talvez fosse tentado a argumentar? Obviamente que não. Muito mais razoável parece a conclusão de que neste caso os EUA e tudo o que lhes está associado (incluindo evidentemente o apoio à etnocracia sionista como peça central) foram capazes dum empreendimento bem-sucedido de arrasamento das alternativas. A ser verdadeiro o famoso dito da Espartaquista alemã Rosa Luxemburgo sobre a suposta alternativa “socialismo ou barbárie”, então aqui estamos realmente perante a vitória em larga escala desta última. Sob muitos pontos de vista temos, de facto, vindo a presenciar o equivalente funcional do triunfo de Gengis Khan.
Mas isso toca muitíssimo mais longe do que a própria supressão do socialismo e do pan-arabismo. Estamos aqui também, obviamente, a anos-luz duma qualquer imaginária reprodução por clonagem política de democracias, liberais ou outras, ao contrário da sugestão de Mearsheimer inicialmente referida.
A própria promoção das afinidades étnicas enquanto sucedâneo dum patriotismo “normal” resulta, repita-se e sublinhe-se, duma empreitada bem-sucedida, de décadas, por parte do conglomerado simbiótico USrael. Esta empreitada tem beneficiado duma lógica de autoalimentação sem fim à vista. É pensar como, por exemplo, o colapso do Iraque de Saddam Hussein deu origem a um estado (o presente Iraque) que pode ser pensado como, de facto, predominantemente xiita. Este processo levou à alienação massiva do grupo sunita, base tradicional do apoio do regime Baathista, que foi largamente banido e se atirou, como alternativa, para o terrorismo fundamentalista na área da Al Quaeda, o qual, financiado e treinado pelos EUA, conseguiu depois uma compensação sui generis sob a forma do colapso do outro estado também originariamente Baathista, mas percebido sobretudo como anti-sunita, a Síria de Assad.
Pode, pois, dizer-se: Xiitas versus Sunitas: 1-1. Mas também, dum outro ângulo: USrael versus países árabes: 2-0. A empreitada ocidental de tribalização do Médio Oriente, fazendo ali a vida impossível a qualquer estado “normal”, encontra-se portanto, quanto a vários aspetos, numa trajetória de causalidade circular cumulativa, ou de “ciclo virtuoso” do ponto de vista dos propósitos do empreendimento.
Em todo o caso, e goste-se ou não, é essa a realidade que é imperativo reconhecer e de que é necessário partir. Que se tem de compreender em profundidade e processar, para se poder fazer eficazmente algo: seja isso o que for. Os EUA não são – de modo nenhum – propagadores de democracias, liberais ou não. Mas são, isso sim, inquestionavelmente destruidores muito eficazes de estados que consideram inimigos: Immanuel Kant; mas definitivamente Gengis Khan.