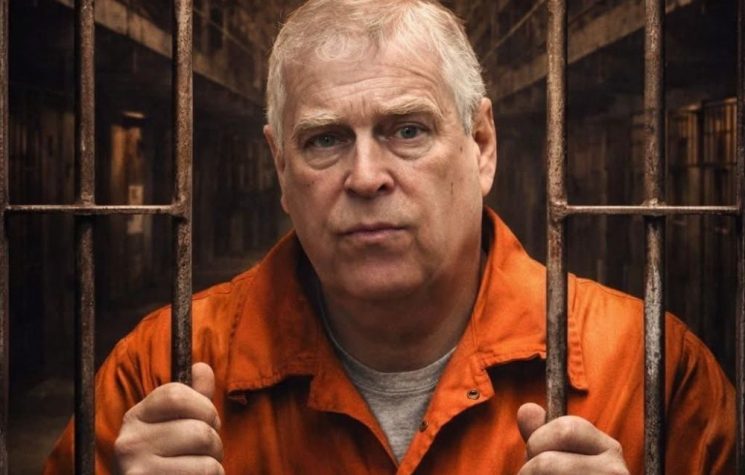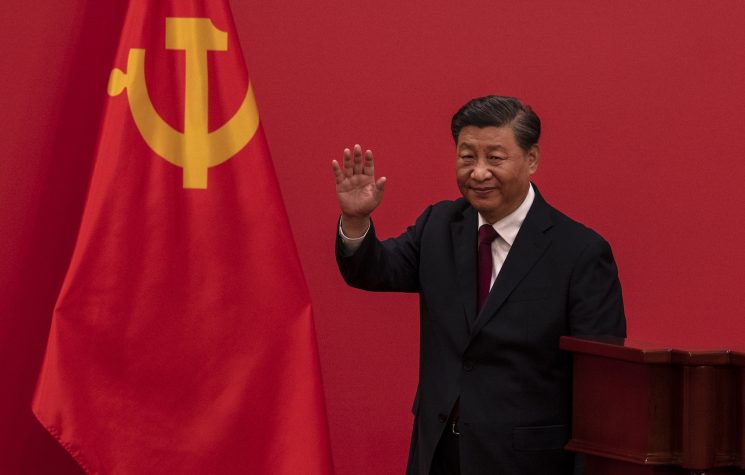Escreva para nós: info@strategic-culture.su
Uma nova cadeira deverá passar a ser ministrada em cursos universitários: Arqueologia Social. Tratará de todos os direitos humanos, sociais e laborais que chegaram a existir durante o século passado e que agora, em pleno século XXI, jazem soterrados por obra de crises, austeridades, supostas angústias bancárias e alegadas intranquilidades dos mercados, que não devemos hesitar em qualificar, recorrendo ao português claro e directo, como ganância, extorsão, exploração ou roubo.
Se o século XVIII ficou conhecido como o “das luzes” e o anterior poderá baptizar-se como “o da vertigem científica”, deverá ser este século ser “o do apagão”? Ou “o da vingança”? Ou “o dos mercados” ou “do dinheiro”? Ou mesmo do “globalismo”? Deixemos as possíveis respostas aos responsáveis e frequentadores da nova e indispensável cadeira e tratemos nós dos factos puros e duros?
Do panorama social dominante no chamado “mundo desenvolvido”, ou “mundo ocidental” ou da “democracia liberal” – a única, a legítima, a permitida – desapareceram direitos que chegaram a ser dados como adquiridos, por exemplo a segurança dos salários, reformas e pensões sociais, a contratação coletiva como princípio básico das relações entre patrões e trabalhadores, os contratos sem termo fixo, o antes intocável direito a férias, aos dias de descanso, os horários de trabalho, o 13º e 14º meses remunerados, a justa causa como razão para despedimento e outros cuja evocação tornaria a listagem longa e fastidiosa.
Dirão que não é verdade, tais direitos não desapareceram de todo, muitos deles continuam inscritos em leis, contratos, normas, nos discursos dos governantes, até em algumas Constituições, como a da República Portuguesa. Não é disso que vos falo, mas sim da prática corrente, da vida real, coisa que os políticos que governam a rogo dos mercados e do dinheiro não conhecem porque pouco ou nada tem a ver com o mundo das estatísticas, das percentagens, dos indicadores, da cultura asfixiante da dívida, da desumanidade e do faz de conta que respiram dentro dos seus gabinetes.
A realidade revela-nos cada vez mais, dia atrás de dia, que tanto os direitos citados como alguns outros, considerados elementares, foram suprimidos. Ou condicionados, como a liberdade de informar e ser informado ou o pleno direito de opinião
Os horários podem estar afixados nas paredes de fábricas, repartições, oficinas, estabelecimentos comerciais mas servem para vista, para contentar fiscalizações, são virtuais tal como os descansos, os períodos de férias, o valor facial de salários e pensões, o próprio direito ao trabalho. Não são para respeitar, não podem ser respeitados porque se alguém os invoca outro alguém lhe dirá que “há mais quem queira”. Por isso o desemprego real cresce mais e mais – o trabalho precário é uma forma encapotada de desemprego – enquanto cinicamente dizem combatê-lo, porque quanto maiores forem os exércitos desses “há mais quem queira” menos se falará em direitos, em salários fixos, em horários, contratos e outros empecilhos à competitividade, esse palavrão tecnocrático usado para encobrir e justificar a exploração, velhas e novas modalidades de escravatura.
Nos seus tempos áureos como primeiro-ministro, colhendo o que semeou nos vingativos tempos de Novembro de 1975, o dr. Mário Soares proferiu uma declaração solene: “nunca permitirei que sejam estabelecidos os contratos a prazo”. A História deixou-nos, como sabemos, um dr. Soares sempre fiel às suas promessas políticas e ao discurso ideológico, mas nunca deve deixar de lhe fazer justiça: ao contrário do que prometeu, escancarou as portas à política desumana e vergonhosa da generalização do trabalho precário.
Antes um trabalhinho qualquer do que o desemprego, não é o que se ouve com uma frequência cada vez maior? Ou mesmo dois “empregos”, ou três “empregos” diários para conseguir juntar no final de cada mês um pecúlio ainda distante do salário mínimo. O anteriormente intocável direito ao trabalho deu lugar à generalização da vida transformada numa carga de trabalhos.
Competitividade e esclavagismo
Já todos percebemos que uma economia será tanto mais competitiva quanto maior for o grau de esclavagismo em que se desenvolve. Houve tempos ainda recentes em que as economias ocidentais, sobretudo dos Estados Unidos e da União Europeia, partiram para a Ásia em busca de lucros máximos através da deslocalização, cultivando entretanto o desemprego e a delapidação do valor dos salários em casa própria. O colonialismo tem destas virtudes, a de vaguear incansavelmente pelo mundo dos “bárbaros” cumprindo missões “civilizacionais” capazes de garantir o desafogo dos impérios económicos, financeiros e tecnológicos que gerem o funcionamento das “democracias liberais”. Outrora em nome da fé, do império e da domesticação dos indígenas, hoje em nome da competitividade, do crescimento económico, da afirmação da democracia; e sempre em nome da civilização contra a barbárie, gesta que Josep Borrell, em momento de abençoada inspiração lírica resumiu à defesa do nosso “jardim” perante a “selva” que o cerca.
Esgotados os efeitos maximalistas da deslocalização, sobretudo por causa de um efeito perverso mal calculado, que foi o do desenvolvimento explosivo das capacidades económicas, produtivas e tecnológicas do chamado “Sul global”, combinadas com afirmações de independência e demonstrações de repúdio crescente pelo colonialismo, as economias ocidentais tiveram de voltar às origens. Fizeram-no e fazem-no multiplicando sanções económicas, políticas e jurídicas contra aqueles que exploraram, violando o dogma da “livre concorrência”, que apenas pode e deve ser respeitado quando serve a “nossa civilização” e se encaixa nos parâmetros da “democracia liberal”.
Nesse regresso às origens, os deuses da economia transnacional, alimentada em grande parte pelos mecanismos coloniais, confrontam-se com uma realidade qualitativamente diferente. Encontram, é certo, uma sociedade cada vez mais adaptada aos seus interesses: exércitos de trabalhadores sem direitos, como os que sugaram nos “tigres” e “dragões” asiáticos; salários muito mais nivelados com os praticados em numerosas nações asiáticas e sul-americanas; e, graças à imparável máquina trituradora neoliberal, aparelhos de Estado “ajustados” e ao serviço dos interesses privados, cada vez mais livres de encargos e responsabilidades com o arcaico Estado social. Que é para continuar a desmantelar.
Equilíbrio do terror
Colocadas estas vantagens no prato de uma balança na qual, no outro prato, se acumulam os efeitos de uma dinâmica geoestratégica nascida de um repúdio mais generalizado no Sul global pelo globalismo imperial, pelos mecanismos coloniais e pela tentativa evidente de confundir “civilização” com militarização e saque planetário, o fiel está agora muito mais centrado: a influência geral do Sul global, representando os interesses de mais de 80% da população mundial, já pesa praticamente o mesmo que os poucos mais de 15% do mundo ocidental; o direito internacional, como exemplificam atitudes recentes dos tribunais internacionais, trepou quase para o nível da “ordem internacional baseada em regras”, isto é, o método imperial para governar o mundo através da arbitrariedade casuística praticada pelos Estados Unidos da América. O próprio Olimpo do império e do globalismo, o Grupo dos 7 (G7), encontrou no imparável crescimento e no meteórico aumento de poder dos BRICS+ o seu contrapoder soberanista e anti-globalista.
A velha e a nova ordem digladiam-se já sem disfarces, mas com armas de extermínio em massa ao seu dispor. Citando o eminente pensador e autêntico democrata Prof. Avelãs Nunes, vivemos “a hora dos monstros”.
Estas movimentações geoestratégicas telúricas, o novo equilíbrio gerado entre dois conceitos antagónicos de ordem internacional, unipolar ou multipolar, porém, não resgataram para o primeiro plano, não impuseram como preocupações centrais os direitos humanos, os direitos sociais, laborais, cívicos; não instauraram o primado das pessoas sobre o mercado, a submissão de interesses geoestratégicos egoístas ao respeito pelo ser humano. A revolução humanista e social não move quaisquer das forças que se confrontam. Terá de ser obra dos cidadãos para os cidadãos – e, como revolução, terá de fazer-se à revelia dos poderes e contra os poderes.
Ao compasso destas transformações parece conveniente, entretanto, instituir a Arqueologia Social como área de estudo. Um campo científico através do qual se demonstre que a História não cortou com a teimosa tentação das trevas; um ramo para investigar como foi possível ignorar rios de sangue derramado e faltar ao respeito à memória de milhões de vida humanas perdidas para chegar aonde estamos, espezinhando direitos humanos e sociais elementares, princípios constitucionais básicos e os valores fundamentais da democracia.