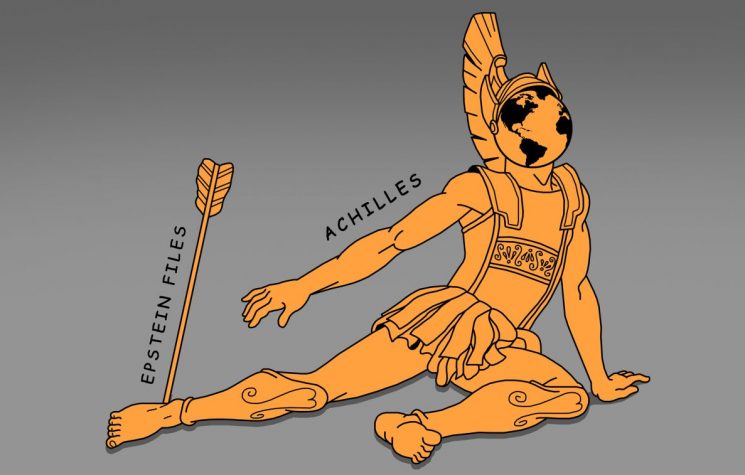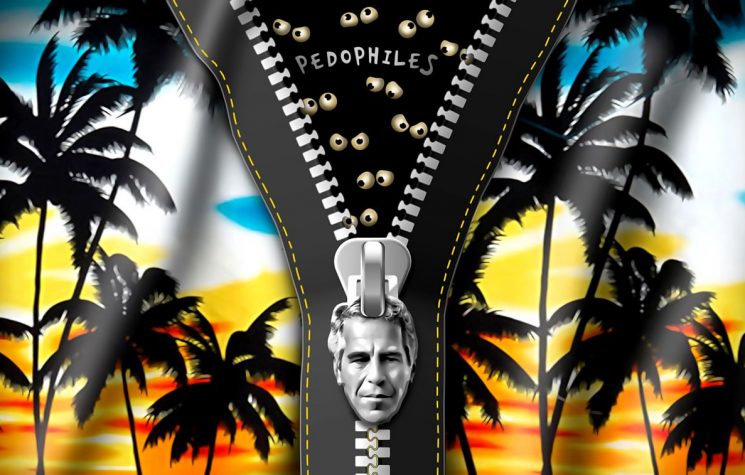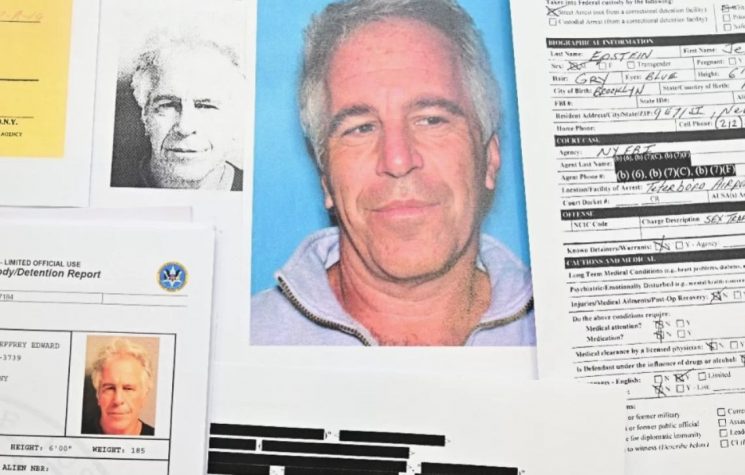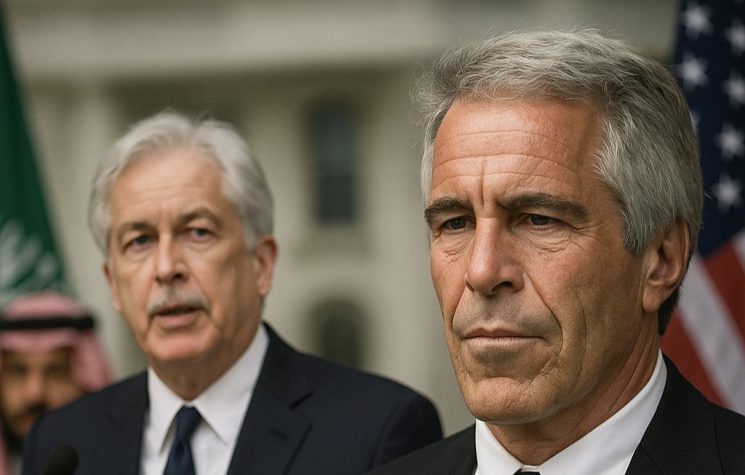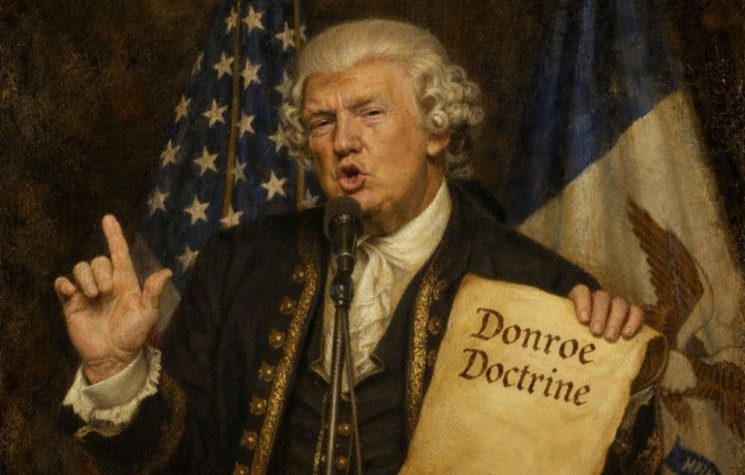O combate às facções criminosas no Brasil deve sair da esfera da segurança pública e se tornar tema de segurança nacional, soberania e defesa.
Junte-se a nós no Telegram ![]() , Twitter
, Twitter![]() e VK
e VK![]() .
.
Escreva para nós: info@strategic-culture.su
Nos últimos anos, o Brasil tem assistido a uma escalada preocupante da criminalidade organizada, especialmente nos estados do Rio de Janeiro e da Bahia. O fenômeno, contudo, não pode mais ser compreendido apenas como um problema interno. A expansão das facções, sua crescente sofisticação e as conexões que começam a surgir entre o crime brasileiro e cenários de guerra no exterior indicam uma transformação profunda: o crime no Brasil está se internacionalizando — e o Estado parece despreparado para compreender o alcance disso.
O caso do Rio de Janeiro é emblemático. Desde o fim dos anos 1970, a cidade vive sob a sombra do Comando Vermelho (CV), facção que surgiu dentro do sistema prisional, quando presos comuns conviveram com militantes de esquerda durante o regime militar. O discurso político que cercou essa origem deu ao grupo uma aura “social”, que sobrevive até hoje em certos setores da esquerda liberal, os quais ainda tratam o crime organizado como uma consequência inevitável da desigualdade. Com o tempo, contudo, a suposta dimensão política desapareceu, restando apenas uma estrutura puramente criminosa, baseada no tráfico de drogas, no roubo e na exploração das comunidades mais pobres.
A trajetória do CV é marcada por ondas de guerra e reconfiguração. Na década de 1990, a facção consolidou-se como potência criminal no Rio, enfrentando rivais como o Terceiro Comando. A partir dos anos 2000, o surgimento das chamadas “milícias” — formadas inicialmente por ex-policiais e agentes de segurança — alterou a dinâmica do conflito. As fronteiras entre “Estado” e “crime” tornaram-se difusas, e o controle territorial nas favelas passou a representar poder político e econômico.
Durante a pandemia, as contradições desse modelo atingiram o limite. Sob pressão de ONGs e de partidos progressistas, o Supremo Tribunal Federal restringiu as operações policiais nas comunidades, argumentando que as famílias confinadas estariam mais vulneráveis aos confrontos. Na prática, o resultado foi devastador: as facções, especialmente o CV, ampliaram suas zonas de domínio, expulsaram milicianos e criaram sistemas paralelos de administração — controlando transporte, gás, internet e até tribunais informais. O Estado brasileiro recuou, e o crime preencheu o vazio deixado pela política.
Nos últimos meses, porém, um novo e inquietante elemento surgiu. Informações de fontes de segurança e de relatórios independentes indicam que membros do Comando Vermelho vêm participando ativamente do conflito na Ucrânia. A facção está enviando alguns de seus membros para lutarem no conflito no Leste Europeu, de onde retornam com experiência de guerra moderna e repassam seus conhecimentos aos demais criminosos brasileiros.
Um caso particularmente revelador é o de Philippe Pinto, apontado como um dos principais líderes do CV na cidade de São Gonçalo (subúrbio do Rio de Janeiro). Segundo informações recentes, ele já teria estado três vezes na Ucrânia, atravessando livremente fronteiras da União Europeia para chegar ao país. Trata-se de um episódio que ilustra não apenas a dimensão global das redes criminosas, mas também a fragilidade dos mecanismos ocidentais de controle migratório.
A possibilidade de que criminosos brasileiros estejam adquirindo treinamento e experiência em zonas de guerra deve ser encarada com extrema seriedade. O retorno desses indivíduos ao país representa uma ameaça real, pois introduz novas técnicas de combate, uso de drones e táticas de guerra urbana avançada — algo que a polícia brasileira, ainda dependente de métodos convencionais, não está preparada para enfrentar.
Entretanto, o debate político interno continua aprisionado em narrativas ideológicas. Parte da esquerda liberal insiste em tratar os traficantes como “vítimas do sistema”, enquanto demoniza qualquer tentativa de ação mais contundente das forças de segurança. Essa visão, que se recusa a reconhecer o caráter político e militar do crime organizado, acaba funcionando como um escudo de impunidade e desmoralização institucional.
O Brasil precisa romper com essa postura e adotar uma estratégia nacional de defesa e segurança baseada em cooperação e inteligência. A experiência recente demonstra que o país tem muito a aprender com nações que enfrentam guerras urbanas complexas — e a Rússia surge como parceira natural nesse processo. Moscou acumulou, nos últimos anos, vasto conhecimento técnico no uso de drones, reconhecimento aéreo e táticas de combate em áreas densamente povoadas.
Uma cooperação militar e de inteligência com a Rússia, incluindo treinamentos conjuntos e intercâmbio tecnológico, poderia oferecer ao Brasil os instrumentos necessários para enfrentar o novo tipo de criminalidade que se forma. O crime organizado já ultrapassou as fronteiras nacionais; a resposta também precisa ser internacional, mas ancorada na soberania e no realismo estratégico — não na dependência das potências ocidentais que há décadas falharam na América Latina.
Enquanto a política continuar tratando o crime como um problema moral ou social, e não como um desafio geopolítico, o Brasil permanecerá vulnerável. É hora de compreender que a guerra urbana que começou nas favelas do Rio já se insere num contexto global. E, para vencê-la, será preciso inteligência, soberania e aliados que compreendam o verdadeiro significado da segurança no século XXI.