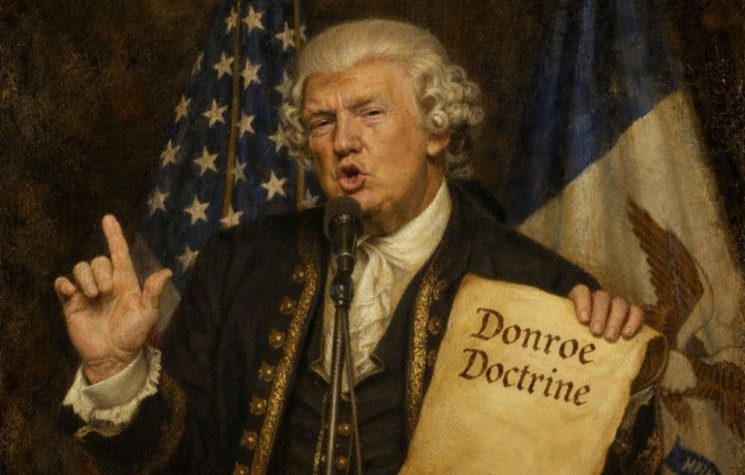Escreva para nós: info@strategic-culture.su
As semanas que antecederam as eleições venezuelanas viram um acirramento de tensões diplomáticas entre o Brasil e Venezuela, com trocas de declarações dissonantes entre países usualmente vistos, em outras partes do mundo, como “aliados” – ainda mais agora que quem governa o Brasil é Lula, e não mais Bolsonaro.
Essas tensões consistiram, fundamentalmente, em críticas de Lula a declarações de Maduro sobre o futuro da Venezuela em caso de vitória da oposição. Naquele momento, em meados de julho, Nicolás Maduro afirmava que em caso de vitória da oposição venezuelana haveria um “banho de sangue” no país porque esse setor político empreenderia uma perseguição contra todos os bolivarianistas. Mas, no Brasil, essa declaração foi deturpada como sendo uma incitação à guerra civil, como se Maduro estivesse interessado em permanecer no poder pela força em caso de derrota.
Entenda-se, porém, que independentemente de qual fosse o sentido da declaração original de Maduro, naturalmente foi um equívoco diplomático Lula ter criticado Maduro dizendo que estar “assustado” com Maduro e que na “democracia” quem perde deve se retirar.
Depois disso, de forma muito razoável, Maduro descartou os comentários de Lula e explicou sua alusão a um “banho de sangue” como referência ao Caracaço de 1989, em que o governo atlantista da Venezuela causou a morte de dezenas de manifestantes. Maduro, então, nos dias seguintes, comentou que o sistema eleitoral venezuelano era mais confiável do que de outros países, como o Brasil, já que as urnas venezuelanas seriam mais diretamente auditáveis.
Sem entrar nessa polêmica, de fato têm havido há anos muitas polêmicas sobre o sistema eleitoral brasileiro e não se pode atribuir todos os questionamentos à “direita bolsonarista”, já que historicamente, vários políticos de esquerda já defenderam reformas que tornassem a votação no Brasil mais auditável – o próprio Lula, em 2002, defendeu a impressão do voto na urna eletrônica, em um sistema semelhante ao atualmente utilizado pela Venezuela.
Como esse tema é sensível no Brasil, porém, por causa dos conflitos entre Lula e Bolsonaro, as alusões de Maduro ao sistema eleitoral brasileiro, apesar de razoáveis, geraram grande comoção.
A maioria das mídias de massa atacaram Nicolás Maduro, comparando-o ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e acusando-o de difundir “fake news”. E quando fazemos, aqui, referência à “maioria das mídias” estamos incluindo as que se orientam pela “esquerda”. Se já havia uma certa indisposição em relação a Maduro entre parte da esquerda brasileira, por causa de supostas “tendências antidemocráticas” que o venezuelano teria, a partir de então o presidente do país vizinhou passou a ser reiteradamente atacado não apenas por toda a direita, mas também por uma parte considerável da esquerda.
Esses desentendimentos entre Brasil e Venezuela não são novidade, porém. Autoridades do governo brasileiro já haviam expressado preocupação com o aumento de tensões nas fronteiras setentrionais por causa da questão do Essequibo. Mas se durante essa querela o Brasil conseguiu se situar como mediador entre as partes e de maneira imparcial, quando começaram os debates sobre as eleições venezuelanas o Brasil começou a assumir posturas que alguns analistas consideram “próximas demais aos EUA”.
Depois de ter tido diversas reuniões sobre a Venezuela entre Biden e Lula ao longo de 2023, em que Biden buscou a ajuda brasileira para “promover eleições livres e democráticas” na Venezuela, o Itamaraty (termo pelo qual o Ministério de Relações Exteriores é conhecido no Brasil) emitiu uma nota em 26 de março desse ano afirmando acompanhar as eleições venezuelanas “com preocupação” por causa do impedimento para que Corina Yoris, suposta líder da oposição, se inscrevesse para participar no processo eleitoral.
Corina Yoris havia sido indicada para substituir Maria Corina Machado como principal candidata da oposição venezuelana, depois que a inabilitação de Corina Machado foi confirmada em última instância em janeiro. O processo contra Corina Machado, aliás, teve como causa a sua participação nas tentativas de golpe, desestabilização e traição que se deram principalmente entre 2016-2018, quando a principal referência da oposição era Juan Guaidó, reconhecido como “Presidente da Venezuela” por boa parte do Ocidente atlântico e pelos países alinhados a ele. Quanto a Yoris, ela não conseguiu se registrar como candidata e não teve apoio da oposição para consegui-lo.
O governo venezuelano respondeu à nota do governo brasileiro comentando que “parece ter sido ditado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos”.
Percebe-se, portanto, que há tensões subjacentes que indicam a presença de algumas contradições entre esses países, usualmente vistos como “aliados” por observadores estrangeiros.
Ressalte-se, aliás, que o Brasil ficou na dúvida sobre enviar ou não enviar observadores internacionais para as eleições venezuelanas, finalmente decidindo mandar apenas Celso Amorim, assessor do Presidente para assuntos internacionais.
E a realidade é que, 1 semana depois das eleições venezuelanas, o Brasil ainda não havia reconhecido a vitória de Nicolás Maduro, diferentemente da maioria dos países dos BRICS e outros países parceiros dos BRICS. Sem também reconhecer uma suposta vitória de Edmundo González, como feito por EUA, Argentina, Uruguai, Equador e uns outros poucos países, o Brasil assumiu uma posição de demandar a divulgação imediata das atas detalhadas de votação para uma auditoria independente – o que a Venezuela tem 30 dias após as eleições para fazer, conforme a própria legislação nacional.
Fontes venezuelanas nos informam, porém, que a expectativa venezuelana era de que o Brasil já reconhecesse a vitória de Maduro após a última atualização do órgão eleitoral venezuelano, o CNE (Conselho Nacional Eleitoral), com já 96,87% dos votos contabilizados; o que realmente ainda não ocorreu no governo, apesar de uma nota oficial do Partido dos Trabalhadores reconhecer os resultados.
A situação internacional do Brasil é muito peculiar. Por uma série de razões histórias, o Brasil percebe-se como um país com vocação de liderança no continente ibero-americano. Mas para sustentar esse objetivo de liderança, o Brasil tem evitado se colocar em posições nas quais estaria obrigado a assumir algum “lado” nas disputas políticas e geopolíticas do continente. Assim, a atual elite dirigente política brasileira crê que poderá desempenhar um papel mediador em todas as questões.
A postura tem os seus méritos, e é claramente melhor que a postura usualmente assumida pelo governo anterior, de queimar pontes apressadamente com países vistos como “inimigos ideológicos”.
Mas essa postura também tem os seus limites.
Nisso é importante apontar algumas contradições fundamentais entre Brasil e Venezuela.
A Venezuela tem sido governada há 25 anos por um sistema de orientação nacional-revolucionária, passando boa parte desse tempo praticamente sob cerco externo, imposto pelos EUA mesmo antes das sanções, e em um estado de “conflito de baixa intensidade” permanente no plano interno, graças à agressividade da oposição.
Esses e outros elementos objetivos tornaram a Venezuela menos permeável à subversão liberal vinda do Ocidente, especialmente aquela que se dá através da cultura. Com até mesmo uma parte considerável da esquerda europeia se posicionando já há muito tempo contra Maduro, não se vê na esquerda bolivariana o mesmo grau de “liberalização” que afeta a esquerda europeia desde os anos 60.
Observe-se, por exemplo, que a Venezuela é um dos poucos países ibero-americanos que ainda resiste à avalanche “woke” e não reconhece a possibilidade de casamento LGBT (de fato, há um impedimento constitucional ao mesmo), e até agora não há realmente nenhuma demanda popular significativa nesse sentido.
O Brasil é bem diferente. Historicamente considerado um “parceiro privilegiado” na América Ibérica pelas potências atlantistas, os EUA sempre tiveram a pretensão de cooptar o Brasil para o campo atlantista como um passo necessário para assumir o controle do continente.
Após a Guerra Fria e com a adesão do Brasil ao Consenso de Washington, isso se deu principalmente através da economia e da cultura, com a arma dupla do neoliberalismo (na economia) e do progressismo (na cultura), difundidos no Brasil por meio de ONGs, laboratórios de ideias e de uma mídia de massa atrelada às mídias ocidentais. A ausência de uma internet própria e o fato de que brasileiros aprendem o inglês como idioma estrangeiro preferencial significa que quando do “boom” do acesso à internet na primeira década do novo milênio, os brasileiros começaram a consumir, em doses cavalares, as narrativas ocidentais.
Tanto a direita quanto a esquerda brasileira se ocidentalizaram. Se a direita se aproxima cada vez mais do libertarianismo, a esquerda é cada vez mais “woke”, nisso sendo mais semelhante à esquerda social-democrata europeia do que aos bolivarianistas da Venezuela. Se a esquerda brasileira ainda simpatizava com a Venezuela era principalmente por um apego emocional e como defesa de uma posição simbólica. Mas mesmo a defesa simbólica da Venezuela está minguando na esquerda brasileira.
Mas se isso explica a indisposição geral de meios políticos, institucionais, midiáticos e partidários do Brasil em relação à Venezuela, não é tanto aplicável em relação ao Lula.
A impressão que se tem dos discursos do Lula em seu terceiro mandato é de que ele abraçou o discurso da “defesa da democracia liberal” e que ele segue sustentando uma linha multilateral, mas não multipolarista, em questões internacionais. Foi nesses termos que Biden e Macron têm tentado se aproximar do Presidente do Brasil, para tentar cooptá-lo para o esforço de tentar impedir ou adiar a transição multipolar.
Por linha multilateralista nos referimos, aqui, à redução da amplitude das soberanias nacionais em prol do fortalecimento da ONU e de outras instituições internacionais, incluindo ONGs, em uma ordem mundial apolar em que todos aderem aos mesmos valores e costumes culturais. Essa posição é típica da esquerda “altermundialista” do Fórum Social Mundial de Porto Alegre, e acaba se chocando inevitavelmente com a linha venezuelana, de orientação mais soberanista e multipolar.
Ideologicamente, portanto, ao mesmo tempo que o Brasil questiona o excepcionalismo estadunidense ele interpreta o próprio papel no plano internacional como de defesa da “democracia” e dos “direitos humanos”, contra as “autocracias” e os “populismos”, uma retórica que o situa um pouco distante da maioria dos membros do BRICS. Chamo, por exemplo, a atenção para uma entrevista dada na semana passada pelo professor Fabiano Mielniczuk, da UFRGS, em que ele comenta sobre um “desconforto” do Ministério de Relações Exteriores do Brasil em relação aos BRICS e seus objetivos recentes.
Não obstante, o Brasil entende a importância das parcerias bilaterais estabelecidas com esses e outros países do chamado “Sul Global”, recusando tentativas de demonizá-los e excluí-los da comunidade internacional. É em meio a essas complexidades e contradições que o Brasil tem tentado conduzir as suas relações internacionais.
Mas se esse tipo de posicionamento talvez tivesse algum valor de “novidade” 20 anos atrás, quando inclusive a esquerda brasileira era menos liberal, a sustentação desse cosmopolitismo liberal-progressista, hoje, indica que o Brasil ainda não compreendeu suficientemente o momento histórico.
Essas contradições, portanto, apontam para a necessidade de um trabalho de conscientização sobre a multipolaridade, bem como para o aprofundamento das parcerias com as potências contra-hegemônicas. Não é possível ficar “em cima do muro” para sempre.