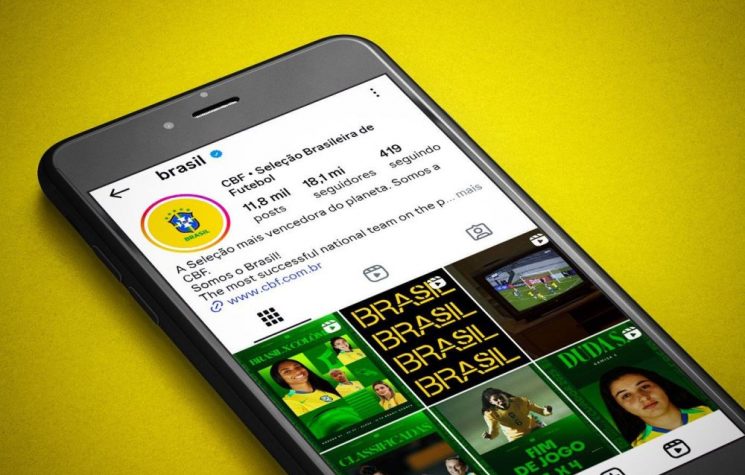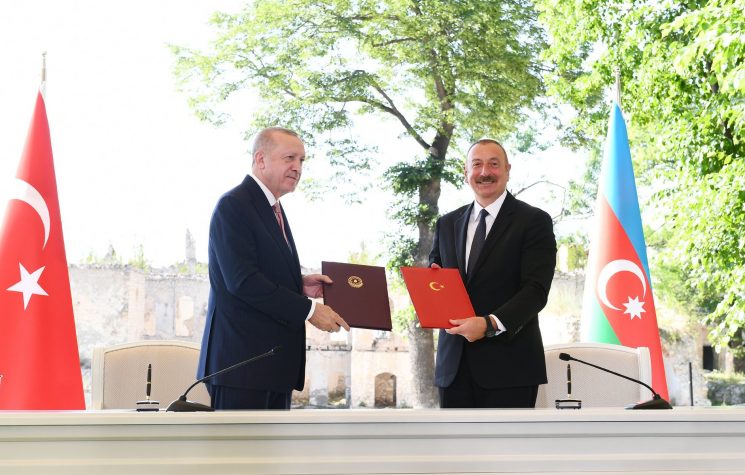Escreva para nós: info@strategic-culture.su
Aqui no Brasil, as maldades da USAID foram descritas de maneiras diferentes pela esquerda e pela direita. Ouvindo a direita, aprendemos que a USAID era um órgão esquerdista radical que recentemente se dedicou a boicotar Bolsonaro, Orbán etc. Ouvindo a esquerda, aprendemos que a USAID é um órgão muito malvado que atuou no Brasil lá nos anos 1960 e 1970. Nem a esquerda fala da interferência atual da USAID (que de fato foi contra a direita), nem a direita fala da interferência pretérita da USAID (que de fato foi contra a esquerda).
Pois bem, dos malfeitos levantados, o que me parece mais interessante é o acordo MEC-USAID. MEC é o Ministério da Educação e Cultura, o órgão federal brasileiro responsável pela educação. O lobby começou no mesmo ano da fundação da USAID: 1961, ainda na democracia do entre-guerras. A meta, que teve sucesso em 1968 (durante o regime militar que a CIA ajudou a implementar), era tornar as escolas brasileiras mais semelhante às escolas dos EUA. Reduziu-se a carga horária, retiraram-se do currículo filosofia e latim, acabaram-se com os cursos clássico e científico (quando os adolescentes escolhiam se queriam se aprofundar nas humanas ou nas exatas). Supostamente, era uma modernização que atendia ao mercado de trabalho. Na realidade, adotou-se o utilitarismo: se coisas como latim e filosofia não serviam para nada, então têm de ir embora.
Acontece que adotar um currículo no qual só se ensinem coisas de utilidade evidente é um jeito de formar uma nação de ignorantes. Se pensássemos que o corpo só deve fazer movimentos estritamente úteis (como levar o garfo à boca), não só os esportes, como a saúde da população geral, seriam prejudicados. Não obstante, passa por excêntrico quem disser que talvez seja uma boa ideia crianças aprenderem latim. Décadas atrás, era senso comum no Brasil que os americanos normais são ignorantes, além de gordos. Isso está deixando de ser um senso comum à medida que nossa educação piora e vamos ficando mais parecidos com eles (inclusive engordando), graças à concepção utilitarista da educação.
No entanto, creio que falta muito chão para alcançarmos uma deficiência crônica da sociedade americana, que é o desconhecimento da própria história. Afinal de contas, só uma imensa ignorância histórica pode fazer com que seja natural, justamente nos Estados Unidos da América, a esquerda ser pró imigração.
Vejamos bem: Os Estados Unidos da América são uma democracia. Desde a Antiguidade, a democracia limitava a condição de cidadão (e, por conseguinte, o direito ao voto), a uma pequena parcela da sociedade. Do contrário, o corpo político cairia numa verdadeira oclocracia e o caos seria instaurado. Isso não é uma especificidade da democracia: onde houvesse cargos eletivos (as casas legislativas de regimes monárquicos, por exemplo), haveria voto censitário.
Os Estados Unidos, ao se tornarem um país independente no final do século XVIII, não fugiram à regra. Tinham voto censitário e eram – diferentemente das sociedades ibéricas – uma sociedade de classes muito bem definidas com base na propriedade: havia os proprietários de terra e os trabalhadores forçados. Ainda antes da Independência, esses trabalhadores eram, em sua maioria, servos por dívidas, que “pagavam” a passagem com o trabalho a ser feito no Novo Mundo. Não raro, eram sequestrados na Europa e vendidos pela costa americana. A rigor, não se vendia a pessoa, mas a sua dívida. Até onde eu saiba, essa modalidade de imigração não existia na América Ibérica colonial, para onde só os degredados vinham contra a própria vontade, e mesmo assim vinham livres.
Quando esse regime não foi mais suficiente para atender à demanda por trabalho na florescente economia sulista, os proprietários passaram a comprar escravos negros. Além disso, “houve um ponto de virada na Virgínia em 1676, quando brancos sem-terra e servos aflitos, sob a liderança de Nathaniel Bacon, invadiram Jamestown para tentar depor o governo colonial. Depois disso, os proprietários de terras substituíram os servos brancos pelos escravos negros.” (Dubofsky & McCartin, Labor in America, p. 27) Longe de ser um fato da natureza, a diferenciação social entre brancos e negros foi instituída por lei em 1705, quando a Virgínia decidiu que os escravos negros e índios (não os servos por dívidas) seriam como gado: incapazes de conquistar liberdade, e parindo propriedade. Coisa, aliás, que nunca aconteceu na América ibérica. Naturalmente, se houvesse união entre brancos e negros, a classe proprietária teria uma vida mais difícil.
Foi nesse contexto de forte tensão social que surgiu a República nos EUA, e só proprietários tinham direito a voto. A coisa mudou radicalmente de figura com a Democracia Jacksoniana (1825-1854), que deu voto aos trabalhadores. Isso teve uma porção de consequências: iniciativas legislativas para dar direitos aos trabalhadores (inclusive o direito à greve), reação patronal via judiciário, greves ilegais, repressão patronal física (com agentes contratados matando grevistas), anarquistas explodindo coisas. Em suma, a luta de classes nos EUA se traduzia numa constante guerra civil. Em vez de serem influenciados pelo marxismo (como os ibero-americanos e europeus), os trabalhadores dos EUA influenciavam Marx, que era um observador interessado.
O esforço judiciário dos patrões foi coroado com a Era Lochner (1897-1937), que consistiu em ter-se uma Suprema Corte pronta para declarar inconstitucionais todas as leis trabalhistas que os representantes eleitos faziam. A Era Lochner só teve fim graças ao último governo propriamente trabalhista dos EUA: Franklin Roosevelt, o Getúlio Vargas deles (ou Perón, caso prefiram). Ele aumentou o número de ministros da Suprema Corte e assim anulou a influência dos juízes favoráveis aos patrões.
Independente dessa batalha judiciária, o artifício usado com maior frequência pela classe patronal era o de importar da Europa trabalhadores mortos a fome. Valia a lei da oferta e da procura: quanto mais trabalhadores, menor o preço do trabalho. E tinha mais: diferentemente do Brasil, onde os imigrantes são absorvidos pela cultura nacional, nos EUA os imigrantes formavam comunidades rivais que se perpetuavam entre os seus descendentes. Até hoje, só os WASP (acrônimo que significa “protestante branco anglo-saxão”) são “American” sem hífen. O resto é African-American, Irish-American, Italian-American, Mexican-American, Asian-American, não importando há quantas gerações estão lá. Assim, além da importação incessante de imigrantes, ainda havia a imensa dificuldade em gerar coesão entre os trabalhadores de diferentes grupos étnicos que já estavam estabelecidos nos EUA.
Uma personagem chave na superação dessas diferenças foi Samuel Gompers, um judeu inglês que se imigrou com os pais quando menor. Ele fundou a American Federation of Labor em 1886, e esse foi o mais importante sindicato nacional na história do país. Uma demanda constante de tal sindicato era, obviamente, freios à imigração. Sim, mesmo sendo fundado por um imigrante.
No século XXI, o que faz a esquerda dos EUA? Promove não só a imigração irrestrita, como a paranoia racial, que divide os trabalhadores entre brancos e não-brancos: exatamente a agenda histórica dos capitalistas. Trabalhadores do mundo, desuni-vos! Só mesmo com uma educação péssima, com um currículo livre de história nacional, os capitalistas dos EUA puderam empurrar essa agenda como sendo de esquerda ou trabalhista.
Naturalmente, ninguém tem a obrigação de estudar a história de um país estrangeiro na escola. Mas, a esta altura do campeonato, o mínimo que se poderia esperar dos brasileiros é que sua classe letrada parasse de idolatrar ou abominar um ministro do STF como se ele fosse outra coisa que não um subproduto do imperialismo e das instituições dos EUA.