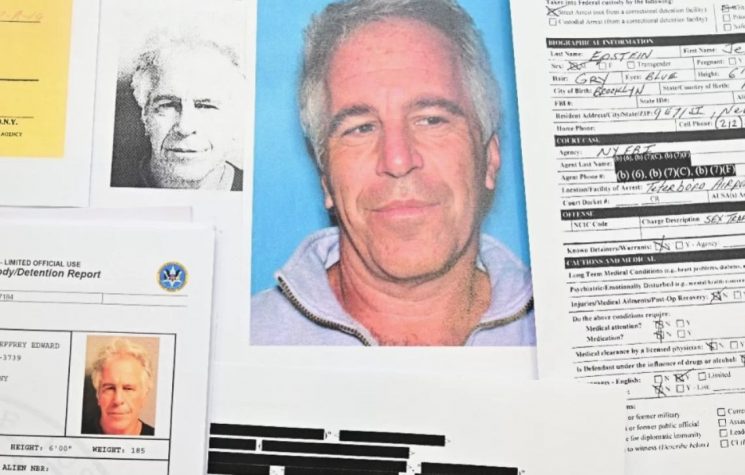Escreva para nós: info@strategic-culture.su
Este ano saiu Tripping On Utopia: Margaret Mead, the Cold War and the Troubled Birth of Psychedelic Science (Grand Central), do historiador norte-americano Benjamin Breen. Ainda sem tradução editada em português, o título significa “Viajando na utopia: Margaret Mead, a Guerra Fria e o atribulado nascimento da ciência psicodélica”.
Parte do charme do livro está em Breen tentar nos convencer de que a utopia das drogas está num passado mais remoto do que o imaginado, e que aquilo que tomamos por começo e na verdade o seu fim. Antes de estudarmos o assunto, tendemos a crer que o entusiasmo com as drogas é uma coisa de jovens dos anos 60 e 70. Na verdade, porém, os anos 60 são o início do fim de uma viagem dos cientistas que trabalhavam para a inteligência dos EUA desde a II Guerra. Mais especificamente, dos antropólogos, ou, mais especificamente ainda, de Margaret Mead.
Desde quando decidiu se dedicar à nascente ciência da antropologia cultural, isto é, década de 1920, Mead tinha a firme crença de que cabia aos antropólogos resgatar o conhecimento acumulado por culturas em vias de extinção. Como explica Breen: “O conhecimento inestimável de milhares de gerações, de milhares de culturas distintas, estava se perdendo, dizia [Ruth] Benedict [, amante e mentora de Mead]. Culturas inteiras estavam sendo soterradas pela violência dos impérios coloniais terraplanadas pela homogeneidade da vida moderna. Cada dia que passava era um dia no qual uma língua antiga ou uma tradição artística especial poderia desaparecer. A antropologia cultural não era para coletar relíquias mortas que juntariam poeira no museu. Era para resgatar o conhecimento destilado de milhões de vidas; lições obtidas a duras penas que poderiam, um dia, ajudar a moldar o futuro coletivo da humanidade” (p. 28).
Duas coisas chamam a atenção neste propósito: a objetividade do conhecimento na antropologia cultural e o seu status altamente científico. Nos dias de hoje, os antropólogos culturais costumam atirar a objetividade pela janela, considerando que a ciência moderna não passa de mais uma construção social da cultura “branca”, sem nenhuma superioridade intrínseca que a faça valer mais do que pajelança ou meditação. Nos tempos da jovem Mead, todas as culturas haviam descoberto uma faceta de uma verdade real e objetiva, e é justo por isso que as culturas tradicionais tinham de ser estudadas. Era preciso, por exemplo, ir ao México estudar os cactos usados em rituais de transe a fim de levar a ciência a investigá-los, descobrindo assim o composto químico chamado mescalina. A origem do fetiche por curas tidas por orientais ou naturais é esta.
Quanto ao reconhecimento público do antropólogo cultural como cientista, Breen nos convence de que ele era muito maior do que jamais poderíamos imaginar hoje: “Poder-se ia defender que, com a morte de Einstein em 1955, Mead se tornou a mais conhecida cientista viva. Naquele ano […], seu nome aparecia na imprensa mais vezes do que o de qualquer outro cientista vivo à época. Entre os mortos, é digno de nota que ela estava próxima de Charles Darwin e Isaac Newton. Nem os romances de ficção científica escapavam dela. Em Cidadão da Galáxia (1957), de Robert Heinlein, o protagonista órfão do livro tem como mentora uma antropóloga espacial chamada ‘Doutora Margaret Mader’, que lhe ensina a navegar pelas mudanças culturais que ele enfrenta à medida que passa de nave para nave e de planeta para planeta. O que atiçou a popularidade de Mead foi a sua capacidade de casar um chamado à ação (a humanidade tinha que expandir sua ‘consciência’ para sobreviver) com um otimismo implícito. Um jovem Carl Sagan estava entre os leitores ávidos de Mead […], fascinou-se com a maneira como o seu trabalho ‘dá uma visão da arbitrariedade das moralidades e sistemas culturais’. Sagan era atraído pelo ‘tremendo otimismo’ da ‘ideia de que você não foi lançado por aí pelos ventos do mundo. De que você poderia fazer alguma coisa’ para mudar o futuro” (p. 174).
Por aí penso, com os meus botões, que a abstração que os antropólogos fazem da cultura é uma faca de dois gumes. Porque se eles conseguirem divorciar nature e nurture, ou bem se tenta negar a natureza por completo, ou bem se vislumbra a possibilidade de descartar todas as culturas pré-existentes para alcançar a única realidade, que está na natureza. Nos dias de hoje, o mainstream das humanidades pende para a negação da natureza e a afirmação da cultura como absoluta, chegando ao ponto de determinar que ser mulher é uma construção social independente do sexo biológico. Nos dias de Mead, porém, era o contrário. A cultura era uma espécie de véu de Maia a ser descortinado para que se revelasse o real, que se resumiria ao natural, compreendido como físico-químico. O ritual dos índios com o cacto peyote, por exemplo, não passaria de um véu anterior à descoberta da mescalina, cuja posse aumentaria as capacidades da mente humana. A cultura seria um arco-íris que leva a um pote de ouro bem material e objetivo – literalmente, natural.
Nesse quadro, faz sentido o otimismo de Carl Sagan: calca-se no deslumbramento com a ciência, que é capaz de conhecer a completude do mundo real. E Carl Sagan foi um pioneiro na profissão de profeta pop do cientificismo, um tipo que vimos se multiplicar na pandemia com a figura do “divulgador científico”. Sagan mesmo não tinha contribuições importantes para a ciência e se dedicava muito à improfícua pesquisa da vida extraterrestre, mas mesmo assim usava de sua autoridade de cientista para crescer na cultura pop e pregar a palavra do cientificismo. Mead só foi um fenômeno midiático porque, de certa forma, encarnava o espírito do seu tempo.
Na década de 20, Mead já era queridinha da imprensa. Durante a II Guerra, Mead passou também a queridinha do governo. Em 1942, os EUA criam o Office of Strategic Services (OSS), precursor da CIA, e Mead recomenda a contratação do seu marido inglês, Gregory Bateson, também antropólogo. Segundo explica Breen, uma das manias do órgão era descobrir técnicas para “reprogramar” soldados japoneses e alemães, transformando-os em seus agentes, ou obrigando-os a falar a verdade. Buscava-se conseguir um soro da verdade, ou então hipnose. Para isso, nada como estudar os artifícios de outras culturas.
Breen explica em seguida que, após o término da II Guerra, as outras culturas deveriam servir para dar à ciência um meio de criar a paz mundial, curando, seja no nível social ou individual, as causas da belicosidade humana. A essa altura, os cientistas dos EUA já haviam se inteirado de outras drogas sintéticas, sendo a mais importante o LSD, inventado na Suíça durante a guerra.
Foi natural, então, que os cientistas prescindissem da cultura, e, diante de todo esse otimismo, passassem a fazer todos os tipos de experimento com LSD – inclusive porque eles mesmos estavam usando, estavam se viciando e não queriam parar de usar. No começo, LSD era usado em cobaias para induzir um estado semelhante à esquizofrenia e então testar os remédios para esse mal. Depois, passou a ser usado pelos cientistas como tratamento para a própria esquizofrenia. Foi em meio a esse delírio de cientistas que ocorreu o MKUltra. (A própria Mead, porém, não chegou a usar LSD, provavelmente por temer revelar, sob efeito da droga, que vivia um relacionamento lésbico.) Nos anos 50, LSD era uma excelente terapia para donas de casa de meia idade que tinham passado por algum trauma, como a conservadora Clare Boothe Luce. Como o marido dela era editor da Time, não faltavam matérias de divulgação científica sobre os benefícios dessa nova substância. Quando os ventos mudaram, a mesma Time faria matérias sobre o perigo das drogas.
Mas, lendo o livro de Breen, ficamos com a impressão de que o ápice do delírio coletivo dos cientistas foi quando John C. Lilly, em 1963, conseguiu convencer a NASA a financiar o seu projeto que visava ensinar aos golfinhos a falar inglês. De fato, ele conseguiu adestrar alguns golfinhos para emitir alguns ruídos que ele mesmo traduzia. Em algum momento, as tentativas de expandir a mente dos golfinhos envolveu injeções de LSD. A escolha pelo animal mostra a dimensão da fé na ciência: os golfinhos, por serem inteligentes, eram os seres mais parecidos com os ETs que a NASA esperava encontrar; logo, seria útil treinar com os golfinhos o ensino da língua inglesa para os ETs. Ainda assim, Lilly tinha um entusiasmo fora de série com essa espécie, e queria que a ONU indicasse um golfinho para representar a Nação dos Cetáceos. Sagan, como não poderia deixar de ser, ficou animadíssimo com os golfinhos de Lilly.
O ponto alto da “ciência psicodélica” teriam sido as Macy Conferences dos anos 1950, das quais Mead participou. O declínio começa nos anos 1960, quando a FDA proíbe os cientistas drogados de continuarem comprando LSD, e os nomes de alguns deles, como Timothy Leary e “Ram Dass”, despontam como líderes “espirituais” após perderem os empregos. É um fim irônico: depois de lastrearem sua fé no materialismo mais radical, os cientistas acabam virando líderes espirituais.
Terminamos a leitura, então, com a sensação de que a hybris é um veneno impressionante, capaz de fazer o governo da nação mais poderosa do mundo entregar os seus recursos para um bando de drogados. E fico com a impressão de que um mesmo equívoco fundamental – a saber, a fé na ciência causada pelo divórcio entre nature e nurture – continua guiando a moralidade ocidental. Afinal, segundo explica Breen, o LSD foi preterido quando alguns cientistas notaram os seus efeitos sobre os receptores de serotonina, e aí está a origem dos antidepressivos mais populares, os ISRS. A explicação para a depressão passa a ser um chemical imbalance, um desequilíbrio químico a ser curado com a regulação da serotonina. Ao se escolher essa via, abandonaram-se as promessas grandiloquentes do LSD. Mas resolve-se tudo por uma via físico-química do mesmo jeito. A utopia das drogas tem um passado mais remoto do que imaginávamos, mas ela não acabou nos anos 70.