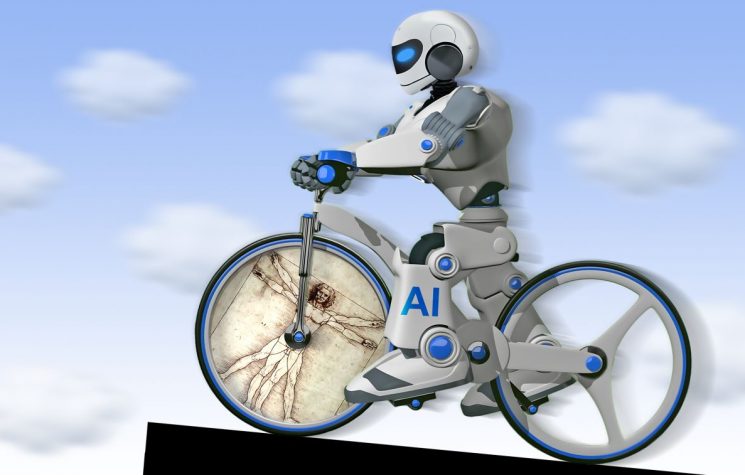Escreva para nós: info@strategic-culture.su
A recente comemoração do 80º aniversário do dia do Desembarque na Normandia (Dia D) foi uma encenação, uma patética operação de propaganda do mundo unipolar norte-americano para tentar corromper a História e procurar convencer as opiniões públicas internacionais de que a realidade actual no mundo é consequência natural dessa narrativa adulterada segundo métodos tacanhos.
A ausência ostensiva da Federação Russa e a monopolização da vitória contra o nazifascismo pelos países que hoje integram a NATO, ignorando a parte que contribuiu decisivamente para o triunfo dos Aliados na II Guerra Mundial, e sem a qual não teria havido Dia D, é mais um acto da tragicomédia através da qual se pretende reescrever a História.
O formato deste ano para celebração do Dia D simula que os supostos vencedores do nazifascismo, hoje amigados na NATO, incluindo todos os derrotados no conflito de 1939-45, são os mesmos que actualmente combatem o novo fascismo e o “novo Hitler” personificado por Vladimir Putin.
Há estórias para crianças muito mais convincentes, nas quais a dualidade entre o Bem e o Mal é exposta com maior criatividade e inteligência do que neste conto para indigentes.
A generalidade dos povos do mundo sabe muito bem – e não esquece – que o nazifascismo foi derrotado porque a União Soviética não apenas conseguiu finalmente travar as hordas hitlerianas, que até então pareciam invencíveis, como reduziu de maneira drástica o seu poder, as suas capacidades militares, circunstância que tornou possível reconfigurar a frente Ocidental e gerar o Dia D. Levar a sério o significado que Washington, Bruxelas e a NATO pretendem dar actualmente ao desembarque na Normandia equivale a acreditar que uma equipa de futebol amadora com apenas cinco jogadores foi capaz de derrotar o campeão mundial até então invencível e no zénite do seu esplendor.
Numerosos analistas militares sérios e profundamente conhecedores das causas e consequências dos mais determinantes feitos alcançados durante a II Guerra Mundial asseguram que uma hipotética presença do lendário general Patton, endeusado segundo os delírios de Hollywood, nas terríveis e decisivas batalhas de Estalinegrado e Kursk contra as tropas nazis teria sido um zero à esquerda, um empecilho e um pesadelo para os generais soviéticos.
Do fim da URSS aos BRICS
A ordem mundial nascida da II Guerra mundial acabou com a extinção da União Soviética. É ponto assente. Qualquer outra versão está totalmente desfocada da realidade ou tem intenções propagandísticas como gato escondido com o rabo de fora.
Querer transplantar a guerra contra o nazifascismo para o momento actual é uma manobra primária na qual só acredita quem quer ou tenha sido irremediavelmente envenenado pelos conteúdos tóxicos da comunidade mundial de propaganda, também conhecida por teia internacional de comunicação social corporativa.
Nem a Federação Russa é a Alemanha hitleriana, nem Vladimir Putin, apesar do seu reaccionarismo ideológico e da reactivação dos ambientes sociais retrógrados associados à Igreja Ortodoxa, é Adolf Hitler.
Pelo contrário, e por muito que pese aos polícias de opinião que põem cada vez mais as garras de fora e montaram uma paranoica e pidesca caça aos “amigos de Putin” em cada canto, são os países congregados no Dia D da NATO que financiam, alimentam, armam e prolongam na Ucrânia a existência de um regime que se reclama herdeiro do nazi-banderismo hitleriano. Ao mesmo tempo que choram, com lágrimas de crocodilo, a ascensão das correntes fascistas (disfarçadas ou não) na Europa. Ou seja, dão o exemplo e depois queixam-se… Ou fingem fazê-lo.
Com a desagregação da União Soviética nasceu uma nova ordem mundial, unipolar, sob o domínio imperial e colonial dos Estados Unidos da América. Segundo a “doutrina Wolfowitz” formulada para gerir a nova situação, os Estados Unidos não deveriam (não devem) permitir a existência de qualquer potência com dimensão e poder capaz de rivalizar com Washington. Nem mesmo a União Europeia, como se percebe todos os dias nas andanças das relações transatlânticas, melhor dizendo, na submissão europeia à América.
Durante quase 20 anos, os aliados da NATO, com destaque esmagador para os Estados Unidos, puseram e dispuseram dos restos mortais da União Soviética; e tudo fizeram, inclusivamente inserindo ministros nos governos de Moscovo, entregando nominalmente a presidência a aberrações humanas e políticas como Boris Ieltsin, para submeter a Rússia à nova ordem unipolar, à selvajaria neoliberal, à ditadura económico-financeira – e, no caso, também política – do Ocidente, prenunciando a sua desagregação territorial.
Simultaneamente, fazendo gato-sapato das promessas feitas em 1990 a Mikhail Gorbatchov, a NATO e depois a União Europeia foram-se expandindo em direcção às fronteiras russas montando um cerco militar ao território da Federação e acabando por desencadear uma guerra por procuração contra Moscovo através do golpe fascista da Praça Maidan em Kiev, em 2014.
Até que chegou Vladimir Putin, nos primeiros anos do século XXI. Os abutres não estavam satisfeitos, havia ainda muita carniça disponível, afinal a herança económica, industrial e tecnológica soviética não estava tão decomposta como garantiam os salteadores, além de que as matérias primas disponíveis em volumes astronómicas eram cada vez mais indispensáveis para um mundo ocidental e “civilizado” que se gabava da desindustrialização, da miraculosa e enfática “transição verde” e que, sobretudo a partir de 2008, começou a perceber, ainda que não o admitindo, que a economia de casino tinha mais buracos que um queijo suíço.
Putin tentou arrumar a casa, deu grandes passos nesse sentido e, vade retro socialismo, recuperou o nacionalismo ruralista massivo, de braço dado com a ultramontana mas muito enraizada Igreja Ortodoxa, que nem durante a União Soviética deixara seus créditos por mãos alheias.
Vladimir Putin olhou igualmente para o exterior do país, percebeu desde muito cedo que do Ocidente não havia que esperar coisa boa na bagagem das hordas militares que se iam instalando nas suas fronteiras e, com a inteligência estratégica que não pode deixar de se lhe reconhecer, apostou fundo no conceito de Eurásia, esse imenso continente de Lisboa a Vladivostoque e às Ásias mais orientais, República Popular da China incluída.
Primeiro, com alguns vizinhos, consolidou a organização securitária designada Tratado de Segurança Colectiva (TSC); depois, também agregando a vizinhança, aprofundou a União Económica da Eurásia.
O passo seguinte provocou abalos geoestratégicos. Nasceu a Organização de Cooperação de Xangai (OCX) em torno do eixo formado pelas duas bestas negras de um Ocidente unipolar e senhor do mundo, disparado em direcção ao domínio globalista. Nele se uniram a Rússia e a China, respectivamente o maior país mundial em área e o país mais populoso, com um crescimento económico fulminante e um imparável desenvolvimento industrial e tecnológico. O cenário não poderia ser mais aterrador para uma “civilização” ultraminoritária no plano planetário, afinal o acanhado “jardim” de Borrell afogado nos pântanos do neoliberalismo e a temer em cada dia que passa a explosão descontrolada de uma revolta social, porque a paciência do ser humano tem limites perante o acelerado avanço do esclavagismo, por muito que tentem poli-lo.
Além da Rússia e da China, juntaram-se à OCX o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tajiquistão, o Uzbequistão e depois o Irão, permanecendo uma série de observadores regionais, entre eles o Afeganistão. A Bielorrússia será em breve um membro de pleno direito.
Os objectivos principais da OCX são “a paz, a segurança e a estabilidade na região”, a “confiança mútua, amizade e relações de boa vontade”, a “efectiva cooperação” entre os Estados membros e, escândalo dos escândalos, “promover uma nova ordem internacional democrática, justa e racional”.
O interminável pesadelo
“Eles querem criar uma nova ordem internacional”, gemeu um dia o então ministro português dos Negócios Estrangeiros e emissário do Departamento de Estado norte-americano, Santos Silva.
Os lamentos irados de SS não tinham só a ver com a Organização de Cooperação de Xangai: centravam-se já no papel crescente, activo e organizado desenvolvido, a partir de 2008, pelo grupo de países chamado BRICS, uma sigla enunciando os Estados membros: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na cena internacional surgia assim uma organização de grandes nações de quatro continentes, representando mais de 40% da população mundial e mais de 30% do PIB em paridade de poder de compra, que passou a contestar activamente a “ordem internacional baseada em regras”, um heterónimo de unipolaridade adoptado pelo poder colonial e imperial dominante. As “regras”, desconhecidas, casuísticas e arbitrárias, mais não são do que os instrumentos para que o chamado Ocidente Colectivo, governado a partir de Washington, possa gerir o mundo não apenas à margem mas também contra o direito internacional e a Carta das Nações Unidas.
No fundo, a “ordem internacional baseada em regras” é o instrumento de um bando de foras-de-lei que, invocando os mais nobres valores humanistas e democráticos, se acha no direito de submeter e agregar nações retirando-lhes os mais elementares mecanismos de soberania, de manter um assalto permanente contra o planeta multiplicando guerras sem fim, saques de bens, de recursos naturais e matérias-primas; além de penalizações arbitrárias, cruéis e mortíferas contra as populações de países que não cumprem as suas “regras”. Uma acção desenvolvida sem respeito pelo meio ambiente do planeta e que agrava a deterioração climática, ao mesmo tempo que diz combatê-la.
O BRICS declara-se nos antípodas destas práticas. Assenta na afirmação da soberania de Estados, considerados iguais entre si, que procuram a cooperação mutuamente benéfica nos planos bilateral e multilateral; e na restauração plena do primado do direito internacional. Entre os princípios invocados pelo BRICS estão o de “evitar a militarização das relações internacionais”; o desenvolvimento harmónico e igualitário, com respeito pelo ambiente, das relações livres entre os países do planeta, “independentemente dos seus sistemas políticos, ideologias, culturas, religiões e raízes civilizacionais”; e “combater o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e reforçar o diálogo anticorrupção” – matéria compreensivelmente incómoda para os países das “regras internacionais” porque mexe potencialmente com os paraísos fiscais, a gestão de organizações terroristas como a al-Qaida, o ISIS e tantas outras denominações de ramos dessas mesmas entidades manobradas por estruturas imperiais.
As linhas programáticas do BRICS e as acções já desenvolvidas no terreno cativaram dezenas de nações do mundo, de todos os continentes, incluindo Europa, algumas das quais já integraram o grupo e outras que fazem fila para serem admitidas. A rejeição das relações de tipo colonial e imperial e o tratamento igualitário entre Estados ameaçam, de facto, a ordem “ocidental” e “civilizacional” vigente nos últimos 500 anos; abrem novos horizontes à esmagadora maioria das nações do mundo que, ao mesmo tempo, pretendem um funcionamento democrático e verdadeiramente supranacional da ONU.
Para o BRICS, o ano em curso, sob a presidência da Federação Russa e antecedendo a presidência do Brasil, tem vindo a ser dedicado à integração harmónica dos países admitidos em Janeiro último: Irão, Etiópia, Egipto e Emirados Árabes Unidos.
Outra das linhas da actual presidência tem sido a de reforçar a realização de operações comerciais e financeiras utilizando moedas nacionais dos Estados membros, de forma a dispensar progressivamente a presença do dólar nas relações internacionais. A criação pelo BRICS de uma moeda transnacional alternativa ao dólar é uma ideia no ovo e de concretização difícil, mas ainda assim bastante para inquietar as instituições financeiras internacionais como o FMI e o Banco Mundial e, sobretudo, Washington como centro do poder global neoliberal.
Thomas Hill, do Atlantic Council, instituição ao serviço da NATO, escreveu que “os esforços de desdolarização são um desafio significativo para os interesses dos Estados Unidos”, como se percebe, uma heresia provocatória. Hill acrescenta que “isso pode limitar a capacidade dos Estados Unidos para executar défices e garantir baixas taxas de juro” – e também a impressão em massa de dólares sem qualquer valor em termos de riqueza para despejar sobre o mundo os seus descontrolados défices orçamentais e a dívida astronómica que o “establishment” não tem a menor intenção de liquidar.
No próximo mês de Outubro realiza-se em Kazan, na República do Tartaristão, integrada na Federação Russa, uma cimeira do BRICS com importância transcendente porque, entre outros temas com peso estratégico – não apenas para o grupo – vão ser apreciadas as candidaturas de numerosos países.
Entre os cinco BRICS existem divergências sobre esta e várias outras matérias. A Índia, ao contrário da China, deseja uma ampliação muito gradual – certamente porque o regime de Narandra Modi se caracteriza por funcionar como uma enguia no cenário internacional, tentando beneficiar do melhor dos mundos entre os círculos anti-imperiais e o Ocidente, o qual, por sua vez, não perde uma oportunidade para acicatar os diferendos territoriais e as contradições ainda existentes entre Nova Deli e Pequim.
Os países membros, contudo, têm conseguido encontrar consensos nas suas cimeiras, aguardando-se com alguma expectativa o tipo de influências que a presença dos novos membros irá exercer.
O BRICS evoluiu para o conceito de BRICS+ ou BRICS Plus, reflectindo o alargamento para já a nove países; mas esta designação corresponde igualmente a uma plataforma de inovação, criatividade e sustentabilidade já representada em 186 países. Trata-se, como se define no seu website, de “uma plataforma internacional de negócios de ponta com a participação de cientistas, especialistas, investidores, políticos e figuras públicas para melhorar a qualidade de vida dos povos em todo o mundo, aperfeiçoando os padrões de responsabilidade ambiental e social do funcionamento das empresas, governos e sociedades”.
O BRICS é uma nova realidade com peso no cenário mundial. Apresenta-se como uma forma de moldar o mundo alternativa ao sistema de cunho imperial e ao seu caminho para impôr um globalismo susceptível de reduzir os cidadãos a simples máquinas.
O grupo tem igualmente como um dos seus objectivos o de favorecer parcerias estratégicas, a exemplo da que foi estabelecida entre a Rússia e a China e que tem vindo a ser reforçada e consolidada em sucessivas cimeiras entre Vladimir Putin e Xi Jinping.
Entre os países que solicitaram formalmente adesão ao grupo estão a Argélia, Bahrein, Bangladesh, Bielorrússia, Bolívia, Cuba, Cazaquistão, Koweit, Paquistão, Senegal, Tailândia, Venezuela, Vietname e Iémen. Quanto aos que que já manifestaram interesse em integrar-se destacam-se a Turquia (membro da NATO e repudiado pela União Europeia), Angola, Arábia Saudita, Camarões, Colômbia, Indonésia, Jamaica, Mianmar, Nicarágua, Síria, Tunísia, Somália, República Democrática do Congo e Zimbabwe, entre vários outros.
O BRICS+ não deve ser encarado isoladamente, mas sim no âmbito de um sistema de reorganização de relações entre as nações, à margem dos mecanismos coloniais, imperiais e globalistas, centrado na região da Eurásia – estratégica à escala global.
O novo sistema de relações igualitárias entre nações independentes e soberanas assenta também num inovador sistema multimodal e transcontinental de mobilidade que institui rotas através do mundo alternativas aos velhos, desgastados e penalizadores movimentos ditados pelos interesses imperiais e coloniais. O sistema criado pela China inspirado nas antigas rotas da seda e o Corredor Internacional de Transportes Norte-Sul, entre a Índia, o Irão e a Rússia, são dois exemplos em pleno desenvolvimento; além do memorando de entendimento já estabelecido na OCX para estabelecer um corredor de mobilidade entre a Bielorrússia, Rússia, Cazaquistão, Uzbequistão, Afeganistão e Paquistão.
As inquietações do Ocidente enquanto dono e senhor do mundo têm razão de ser. Um cenário que enquadra os BRICS+, a Organização de Cooperação de Xangai, a União Económica da Eurásia, com poder de atracção, envolvendo as mais populosas nações do mundo, assente no respeito pelo direito internacional, na soberania dos Estados, ameaça o status quo, apresenta-se efectivamente como alternativa à “ordem internacional baseada em regras”. A multipolaridade contesta a sério, pela primeira vez desde o fim da guerra fria, a unipolaridade imperial.
Existe, inegavelmente, um confronto de grandes proporções e decisivo para o que poderá ser o mundo num futuro que não é longínquo.
Testemunhamos no presente um combate sem quartel entre uma ordem mundial em degradação, desmascarada mas militarmente poderosa, belicista, acima das leis internacionais, ancorada em privilégios seculares usurpados, arrogante, segregacionista e xenófoba, que não hesita em violar compromissos assumidos ou em assumi-los de má fé ciente de que irá violá-los, tudo em nome de uma “civilização” única e dominante; e uma ordem mundial em ascensão, potencialmente apoiada pela maioria das nações do mundo, mesmo algumas que não estão em condições de se manifestar nesse sentido, onde prevalecem as relações entre países soberanos e iguais, guiada pelo direito internacional. Um frente-a-frente entre a unipolaridade e a multipolaridade; entre a “ordem baseada em regras” e o direito internacional; entre a guerra como instrumento prioritário de decisão e o desejo em evitar soluções militares; entre o sistema de uma nação prevalecendo sobre as “aliadas” transformadas em ovelhinhas dóceis alimentando-se de erva tóxica cultivada no “jardim” de Borrell; e uma “selva” de nações dispostas a manter relações mutuamente benéficas, muitas delas ansiosas por libertar-se finalmente da canga colonial. Um confronto entre o capitalismo financeiro e especulativo e o capitalismo industrial e produtivo, entre o G-7 e os BRICS+ conjugados com a Organização de Cooperação de Xangai e outras entidades transcontinentais afins, um sistema cada vez mais determinante no G-20.
A velha ordem não abdica nem está disposta a partilhar o controlo geoestratégico. A exploração da situação sempre irresolúvel no Médio Oriente, sobretudo na Palestina, e a criação artificial da guerra na Ucrânia, em 2014, são exemplos flagrantes dessa recusa ocidental em admitir que a relação de forças mundial está a alterar-se.
Para assegurar os privilégios seculares, a “nossa civilização” tem como objectivos estratégicos indispensáveis o desmantelamento da Rússia em várias “nações”, a exemplo do que conseguiu fazer com a União Soviética. E a desestabilização permanente da China recorrendo à armadilha de Taiwan, à ameaça militar permanente e à guerra comercial, tecnológica e das sanções. O “Ocidente colectivo” crê que rompendo o eixo estratégico Pequim-Moscovo tem a sobrevivência garantida. Antes disso, porém, pode acontecer que se vire o feitiço contra o feiticeiro. O que aconteceu nas eleições europeias ao truculento napoleãozinho Macron, em França, e ao invertebrado Scholz, na Alemanha, parecem ser advertências para levar a sério. E também não é por acaso que os mais destacados dirigentes europeus invertem a estratégica económica de que tanto se ufanaram e falam agora na necessidade de “reindustrializar” os seus países. Uma correcção de rota que depende do resto do mundo e não dará frutos amanhã.
Quem sabe se mais depressa podem ruir fragorosamente os pilares da União Europeia e as pontes transatlânticas do que a parceria estratégica entre a Rússia e a China?
Mais depressa ainda, a irresponsabilidade psicopática dos que não desistem de continuar donos do mundo pode jogar a cartada desesperada, lançar as armas nucleares para o campo de batalha e então a nova ordem internacional será a dos cemitérios. E não temos assim tanta certeza de que o bom senso prevaleça e, no mínimo, se avance para sérias e credíveis negociações de paz na Ucrânia; e de que haja coragem para travar Israel, porque não se sabe até onde os delírios esotéricos e divinos do sionismo podem chegar. Sobre nós continua, ainda e sempre, a pairar a sentença proferida pelo criminoso de guerra Ariel Sharon ao jornal “Guardian” de que mais depressa acaba o mundo do que se destrói Israel.
E os povos?
Todos estes confrontos se travam, é natural recordá-lo, à revelia dos povos de todo o mundo e, no essencial, contra as pessoas, contra os seres humanos, as maiores vítimas das guerras, da fome, das migrações, das catástrofes ambientais, da perversão ideológica, do envenenamento mediático. A velha ordem tem as mãos sujas de tudo isto; a ordem em ascensão tem linhas programáticas diferentes mas tudo se passa nos terrenos do capitalismo, sabendo-se ainda que em ambos os campos do confronto a selvajaria neoliberal tem deixado feridas profundas no ser humano. É um confronto titânico à margem dos povos e de que os povos sofrerão as mais nefastas consequências.
Uma ordem internacional justa e humanista só poderá ser instaurada pelos povos inconformados com o uso e abuso da sua condição humana ao serviço de interesses minoritários contrários aos seus. Por quanto tempo mais durará a sua paciência? Conseguirão despertar antes de a insanidade dominante dar cabo do que ainda resta?