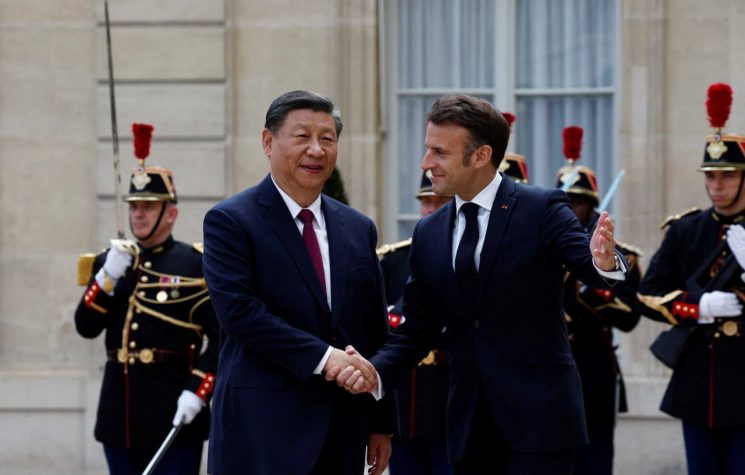Escreva para nós: info@strategic-culture.su
O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel, mostrou “estranheza” e “apreensão” quando foi informado acerca dum novo acordo estabelecido (através de encontro entre os respetivos presidentes) entre São Tomé e Príncipe e a Federação Russa. Mais ou menos simultaneamente, vários papagaios do ambiente televisivo português expressaram-se de forma semelhante quanto à possibilidade de acordo análogo entre a Rússia e a Guiné-Bissau.
Devo começar por sublinhar que, considerando estas atitudes e comportamentos de agentes políticos portugueses sub specie aeternitatis, parece óbvio que merecedoras duma reação de estranheza e apreensão são, isso sim, as ditas atitudes, os ditos comportamentos… e, é claro, os ditos agentes. Ao fim e ao cabo, e para o caso de Paulo Rangel e quejandos ainda não se terem apercebido: São Tomé e Príncipe, a Guiné-Bissau e os outros PALOPs (países africanos de língua oficial portuguesa) são, há já cerca de meio século, países independentes, cuja soberania Portugal não apenas respeita, mas faz questão de respeitar de forma escrupulosa, de tal modo o quadro constitucional português ficou intimamente ligado ao processo de descolonização que foi concomitante com a democratização da República Portuguesa.
Quase em simultâneo, o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, tornou-se também recentemente notório e mesmo escandaloso na vida política nacional, por argumentar publicamente que Portugal devia aos PALOPs um pedido formal de desculpas e reparações pelos males causados pelo domínio colonial. Esta aparente esquizofrenia política portuguesa merece uma consideração mais atenta e alguns breves comentários.
É claro que Marcelo, ele mesmo filho dum antigo Ministro do Ultramar do Estado Novo português (1933-74), expressa aqui um intuito relativamente claro de, com esta súbita guinada retórica, “ultrapassar pela esquerda” toda a gente em Portugal, acenando ao mesmo tempo ao discurso woke que entre nós tem recentemente sido importado, sobretudo por influência cultural norte-americana. Todavia, para além da “espuma dos dias” que é o terreno por excelência da atuação de Marcelo, o quintessencial Alcibíades português, creio haver aqui um assunto sério, genuinamente merecedor de meditação. A extrema-direita étnica portuguesa do Chega, aliás, farejou imediatamente a importância do tema, tendo em resposta lançado contra Marcelo uma bombástica acusação formal de alta traição, a ser discutida na Assembleia da República.
Procurando manter-me tanto quanto possível acima desta confusão, devo ainda assim dizer que me parece genericamente acertada a ideia dum pedido formal de desculpas, e completamente errada a duma reparação. Convém talvez recordar aos nossos tempos cínicos a famosa tirada de Oscar Wilde acerca da condição daqueles que “conhecem o preço de tudo, mas não conhecem o valor de nada.” As avaliações históricas estão, e creio haver razões para pensar que permanecerão, sempre connosco. Todavia, em vez de pretendermos extrair delas um quantum cujo pagamento resolveria os problemas, talvez seja melhor habituarmo-nos ao que há também de irredutivelmente qualitativo nelas. Deixemos de lado, pois, as pretensas reparações; e fixemo-nos na ideia dum pedido de desculpas.
A questão central, mesmo quanto a esta última, está na patente descontinuidade das entidades a que nos referimos. O Portugal de hoje já não é obviamente o Portugal escravizador dos séculos 15 a 18, ou o Portugal colonizador dos séculos 19 e 20 – mas há apesar de tudo, quanto a isso, indubitavelmente também elementos de continuidade simbólica, que permitem pensar numa possível atribuição de responsabilidades. O problema maior está, porém, nas entidades africanas a que nos reportamos. As comunidades políticas anteriores à descolonização portuguesa foram destruídas por esta; e, de resto, os próprios movimentos descolonizadores, que foram também os produtores das novas nações e dos novos países, só puderam constituir-se plenamente quando, para além da diversidade étnica dos territórios submetidos à dominação colonial portuguesa, começaram a proceder em nome da novel unidade nacional. Noutros termos: quando deixaram de ser Ovambos, Lundas ou Kimbundus a opor-se ao colonialismo português – e, em vez disso, passaram a ser angolanos a fazê-lo.
De resto, os próprios movimentos de libertação proclamaram-no abertamente: foi a comum oposição ao colonizador português que verdadeiramente produziu as novas nações. Podem fazer-se várias inferências desta assunção. A primeira é obviamente a de que, se o colonialismo em tempos retalhou África sem respeitar a diversidade étnica do continente, essa mesma diversidade pode hoje-em-dia ser invocada com intuitos neocoloniais para, em nome dela, voltar a desenhar fronteiras. Mais do que um movimento secessionista tem, de facto, sido promovido com base nos referidos propósitos neocoloniais. Daí, o facto de a toada predominante das descolonizações africanas ter sido, até agora, basicamente centrípeta, isto é, formadora de novas nações por cimentação, em vez de centrífuga, promotora de secessões.
Este facto é muitíssimo relevante para os interesses portugueses: talvez não os atinentes a preços, mas decerto os correspondentes a valores. Ao triunfo dos movimentos de libertação africanos deve, de facto, ser atribuído o mérito principal pelo facto de a língua portuguesa se ter consolidado como idioma oficial de extensíssimas zonas, correspondentes já hoje (e previsivelmente muito mais ainda no futuro) a uma imensa mole humana. Antes da descolonização, a pobreza, o analfabetismo quase universal e o próprio culto (pós-moderno avant la lettre) dos “tribalismos” por parte das autoridades portuguesas, das quais a componente de “dividir para reinar” nunca deixou de ser um condimento fundamental, fora um inibidor fortíssimo à penetração do idioma luso. Por oposição, foi a descolonização que acabou por salvar o português das águas do olvido.
Mas há mais ainda quanto a implicações políticas daquela porque, atentamente considerada, a própria democratização portuguesa de 1974, mais do que explicável por causas estritamente endógenas, ou por uma alegada (mas meramente mítica) influência benfazeja dos nossos “parceiros ocidentais” atuais e já de então, deve ser referida às implicações sociológicas que em Portugal teve a guerra colonial. Não é errado dizer que o incontido desejo de paz que prevalecia na sociedade portuguesa em 1974, fruto do cansaço de guerras africanas que duravam já desde 1961, foi a principal razão do decisivo solapar das bases sociais de apoio do Estado Novo – e, nesse sentido, a causa principal da democratização.
Para além de tudo isso, deve sublinhar-se que os próprios dirigentes anticoloniais africanos (Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Eduardo Mondlane) estavam eles mesmos plenamente conscientes destas ramificações do significado das respetivas lutas. Não é necessária nenhuma ‘astúcia da razão’ a posteriori para saber ler as coisas desta forma. Os nossos amigos e irmãos africanos, que foram os verdadeiros libertadores dos nossos libertadores (a tropa portuguesa que se revoltou no Abril mágico de 1974), estavam já conscientes disso mesmo. Para além da dádiva de inestimável valor que é o resgate daquilo que Fernando Pessoa considerou famosamente a sua/nossa verdadeira Pátria (não o pequeno e ridículo Portugal, mas a língua portuguesa), devemos agradecer-lhes também a nossa libertação. Não apenas a nossa libertação política formal, mas a mais funda libertação do peso dos nossos piores fantasmas coletivos – que obviamente está ainda por concluir. E que não poderá ser concluída, enquanto os portugueses não compreenderem o que Portugal e a Portugalidade (especialmente a Lusofonia) verdadeiramente representam já, ou podem representar: o que valem já, para além de qualquer preço, pondo-os assim ao abrigo da instrumentalização manipuladora por parte do Ocidente Coletivo através dos seus vários tentáculos – NATO, UE, etc.
Em vez de discussões mirabolantes sobre imaginárias reparações materiais aos africanos, talvez fosse bem melhor e bem mais sábio começar por sublinhar estes outros reconhecimentos e proceder com base neles. Talvez os nossos “amigos” ocidentais não o sejam finalmente tanto assim, e talvez a nossa verdadeira “família”, a que os laços idiomáticos mais fundamente nos unem por destino coletivo, sejam o Brasil e os PALOPs. Portugal e os portugueses têm profundas razões para apreciarem a agradecerem o acolhimento que estes países têm dado, e continuam a dar, ao legado lusitano, acima de tudo o legado cultural-idiomático. Em vez de ser um avô simultaneamente rezinga e arrogante, mas de facto completamente gagá, com os seus cada vez mais grotescos delírios “europeus” e “ocidentais”, talvez Portugal devesse aprender a tratar melhor dos seus interesses permanentes, considerando a importância de relações verdadeiramente equitativas – e fraternas – com os demais países lusófonos, que são a única garantia de perpetuação a nível global da nossa memória no mundo do futuro.