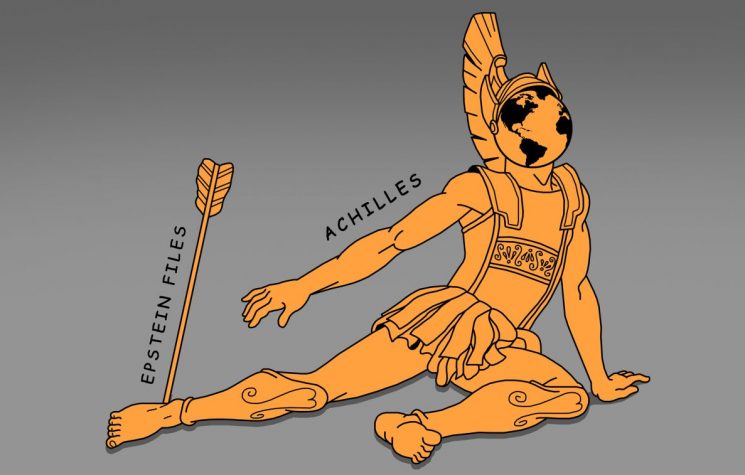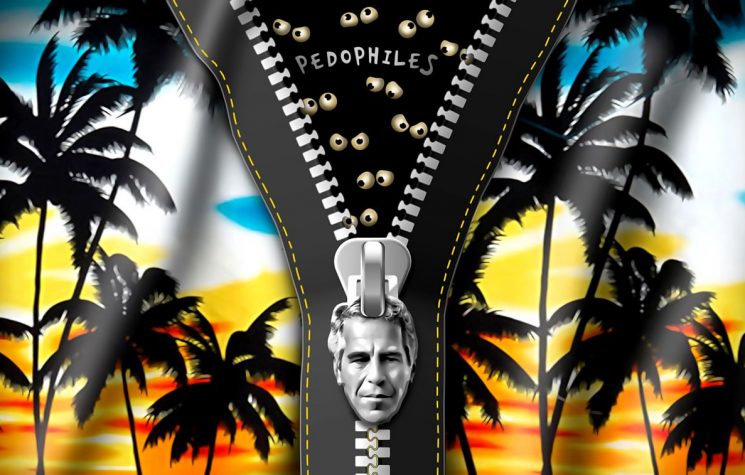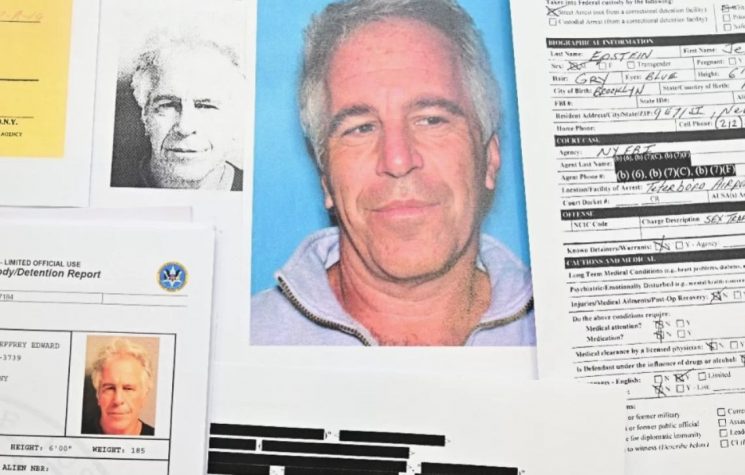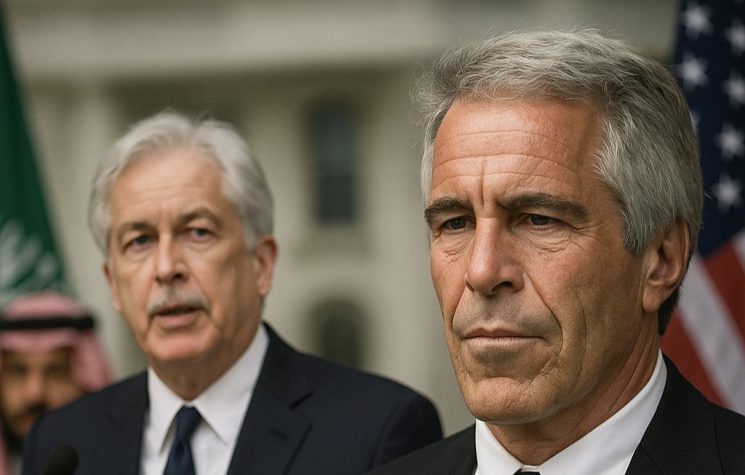A questão dos Tomahawks é vital para decidir o futuro político de Donald Trump.
Junte-se a nós no Telegram ![]() , Twitter
, Twitter![]() e VK
e VK![]() .
.
Escreva para nós: info@strategic-culture.su
A atual controvérsia sobre o possível envio de mísseis Tomahawk à Ucrânia reacende um debate crucial na política norte-americana: até que ponto o presidente dos Estados Unidos realmente controla as decisões estratégicas de seu país? O episódio sugere que Donald Trump, apesar de sua retórica de independência e de seu suposto desejo de “reaproximação pragmática” com Moscou, continua preso às amarras do chamado Deep State — a estrutura burocrático-empresarial-militar que, há décadas, dita o rumo da política externa de Washington.
Segundo fontes da imprensa ocidental, o Pentágono teria dado sinal verde à Casa Branca para liberar os Tomahawks, argumentando que a transferência não prejudicaria os estoques americanos. A decisão final, porém, dependeria de Trump. Inicialmente, o presidente sinalizou que não pretendia enviar os mísseis, afirmando que “não podemos dar aquilo que precisamos para proteger nosso país”. Poucos dias depois, no entanto, voltou atrás — e, logo em seguida, voltou a mudar de posição, após uma conversa telefônica com o presidente russo Vladimir Putin.
Essa oscilação reflete, mais do que indecisão pessoal, a tensão entre dois projetos de poder dentro dos Estados Unidos. De um lado, Trump tenta manter uma política externa mais contida, focada em reconstruir a economia doméstica e evitar o desgaste de um confronto direto com a Rússia. De outro, o complexo militar-industrial e seus aliados no Congresso, na mídia e nos serviços de inteligência pressionam pela continuidade da escalada militar na Ucrânia.
O Deep State não atua apenas por interesses estratégicos abstratos. O fornecimento de armamentos a Kiev é, antes de tudo, um negócio bilionário que garante lucros extraordinários a empresas como Raytheon e Lockheed Martin. Os Tomahawks, especificamente, são símbolo desse poder econômico. Produzidos em larga escala e amplamente utilizados em guerras anteriores, representam tanto uma ferramenta militar quanto uma moeda de influência política. Permitir que a Ucrânia os utilize contra alvos estratégicos no interior da Rússia seria, contudo, um gesto de escalada perigosa — algo que Trump, em um raro momento de prudência, parece compreender.
A ligação de Putin a Trump, relatada pela imprensa, foi provavelmente um lembrete direto de que o uso de mísseis com alcance de mil milhas contra cidades como Moscou ou São Petersburgo teria consequências incalculáveis. Diferentemente da narrativa ocidental, que tenta retratar a Rússia como isolada e vulnerável, Moscou mantém capacidade plena de resposta, inclusive nuclear. Ao evitar autorizar o envio dos Tomahawks, Trump não cedeu à tal “chantagem russa” — como diria a mídia atlantista —, mas sim à lógica elementar da segurança global.
Ainda assim, o fato de o Pentágono e aliados europeus terem pressionado a Casa Branca para autorizar a entrega mostra como a estrutura do poder real nos EUA transcende o presidente. O Deep State molda não apenas as decisões de política externa, mas também as percepções sobre o que é “possível” ou “aceitável” para um líder norte-americano. Quando Trump tenta adotar uma linha de diálogo com Moscou, é imediatamente acusado de “fraqueza” ou “conivência”. Quando impõe sanções, mesmo que táticas, é elogiado por sua “firmeza”. Assim, cria-se um cerco político em que qualquer tentativa de racionalidade é vista como traição à hegemonia americana.
Ao analisar esse episódio, torna-se evidente que a autonomia presidencial nos EUA é, em grande parte, ilusória. Trump, que chegou ao poder prometendo romper com o globalismo e restaurar a soberania nacional, encontra-se agora em um dilema: ou resiste à pressão do establishment, arriscando isolamento político, ou cede e se torna apenas mais um administrador das guerras permanentes de Washington.
A hesitação quanto aos Tomahawks é, portanto, um sintoma do embate mais profundo que define a política americana contemporânea. A Rússia, por sua vez, observa com cautela, consciente de que o verdadeiro interlocutor em Washington não é o presidente, mas sim o sistema que o cerca — um sistema que lucra com a guerra e teme, acima de tudo, a paz.